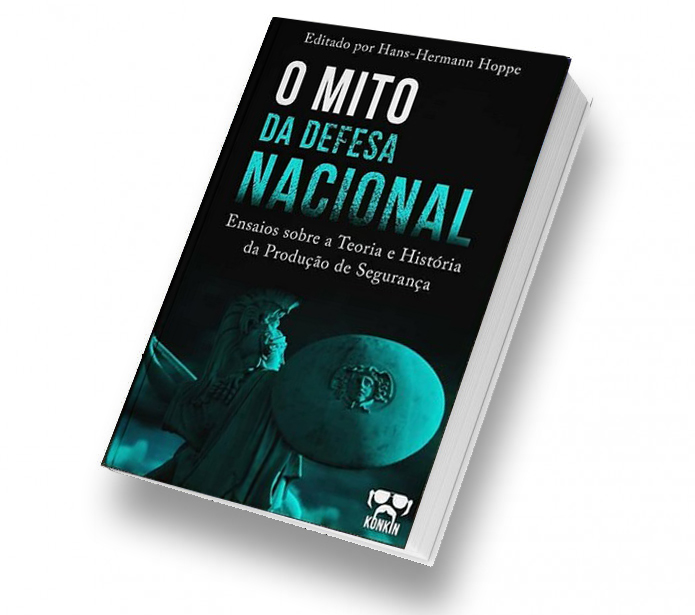 [Este artigo foi retirado da introdução da obra The Myth of National Defense, traduzida e publicada pela Editora Konkin e disponível on-line]
[Este artigo foi retirado da introdução da obra The Myth of National Defense, traduzida e publicada pela Editora Konkin e disponível on-line]
Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson afirmou:
Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas: que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a procura da felicidade. E a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando os poderes pela forma que pareça mais conveniente para alcançar a segurança e a felicidade. Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros. Assim sendo, toda experiência tem mostrado que os homens estão mais dispostos a sofrer, enquanto os males são suportáveis, do que a se desagravar, abolindo as formas a que se acostumaram. Mas, quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, sentem-se no direito, bem como no dever, de abolir tais governos e instituir novos guardiães para sua futura segurança.
Mais de 200 anos depois da Declaração de Independência, parece apropriado questionar se os governos fizeram, de fato, o que eles propunham fazer. Ou se a teoria e a prática já nos providenciaram campos para considerar outros guardiões possivelmente mais eficientes para nossa futura segurança.
O presente volume visa providenciar uma resposta para esta pergunta fundamental.
Com efeito, essa questão foi assumida com certa urgência após os eventos de 11 de setembro de 2001. Os governos deveriam nos proteger do terrorismo. Porém qual foi o papel desempenhado pelo governo dos EUA nos ataques terroristas ao World Trade Center e ao Pentágono?
O Governo dos EUA possui um orçamento de “defesa” de $400 bilhões por ano, uma soma igual ao orçamento de defesa dos outros 24 exércitos que mais gastam. E, apesar de possuírem uma rede de espiões e informantes que se estendem pelo mundo inteiro, não puderam prevenir aviões comerciais de serem sequestrados e usados como mísseis contra proeminentes civis e alvos militares.
Pior ainda, o Governo dos Estados Unidos não só falhou em prevenir o desastre do 11 de setembro, como também tornou tal acontecimento mais provável de acontecer. Em decorrência de uma política externa intervencionista — na forma de sanções econômicas, tropas estacionadas em mais de 100 países, bombardeios severos, sustentação de regimes despóticos, tomando lados em disputas territoriais e étnicas sem solução e, ainda mais, tentativas de manipulação militar e política em todas as áreas do globo —, o governo providenciou as grandes motivações para os terroristas estrangeiros fazerem dos Estados Unidos seu primeiro alvo.
Além disso, como é possível que homens armados com nada mais que estiletes poderiam ter infringido o dano que infringiram? Obviamente, isso foi possível porque o governo proibiu as linhas aéreas e pilotos de protegerem a propriedade deles se utilizando da força proporcionada pelas armas. Deixando, portanto, toda linha aérea comercial vulnerável e desprotegida contra sequestradores. Uma pistola de $50 no cockpit faria o que $400 bilhões nas mãos do governo não puderam fazer.
E qual foi a lição tirada de tais falhas? No rescaldo desses eventos, a política externa dos EUA se tornou ainda mais agressiva, intervencionista e ameaçadora. O exército dos Estados Unidos derrubara o governo afegão, acusado de estar “abrigando” o comandante dos terroristas Osama bin Laden. No decorrer disso, milhares de civis inocentes foram mortos como um “dano colateral”, mas bin Laden sequer foi capturado e punido até os dias de hoje, quase dois anos depois dos ataques. E assim que um governo aprovado pelo governo dos EUA foi instalado no Afeganistão, o governo dos EUA voltou sua atenção para guerras contra outros Estados inimigos — em particular o Iraque, com suas reservas gigantes de petróleo. Os EUA até recusaram descartar o emprego de armas nucleares. Sem dúvidas que essa política contribuiu para o posterior número de recrutas nas fileiras de pessoas querendo se utilizar de extrema violência contra os Estados Unidos como modo de se vingar.
Ao mesmo tempo, domesticamente, o governo se utilizou da crise que ele mesmo ajudou a causar para, posteriormente, ampliar o seu próprio poder às custas dos direitos de liberdade e propriedade das pessoas. As despesas do governo, em especial para a “defesa”, foram imensamente aumentadas, e um novo departamento governamental da “segurança da pátria” foi criado. A segurança nos aeroportos foi tomada pelo governo federal e seus burocratas, e passos decisivos em direção a uma vigilância civil completamente eletrônicas foram feitos.
Em verdade, nessa altura, os eventos atuais clamam por uma reflexão dos problemas de defesa e segurança e os respectivos papéis do governo, do mercado e da sociedade em providenciá-los.
* * *
Duas das proposições amplamente mais aceitas entre economistas políticos e filósofos políticos são as seguintes: primeiro, todo “monopólio” é “ruim” do ponto de vista dos consumidores. Monopólio aqui é tomado no sentido clássico de um privilégio exclusivo garantido a um único produtor de uma mercadoria ou serviço; isto é, como falta de uma “entrada livre” para uma linha de produção particular. Em outras palavras, somente um agente (A) pode produzir um dado bem (X). Todo monopolista é “ruim” para os consumidores, pois, impenetrável por potenciais competidores em sua área de produção, o preço monopolizado do produto X será mais alto e a qualidade de X menor do que numa situação contrária.
Segundo, a produção de segurança tem de ser feita pelo governo e é sua principal função. Segurança é aqui entendida no sentido amplo adotado na Declaração de Independência: a proteção da vida, da propriedade (liberdade) e da procura pela felicidade de violência doméstica (crime), tal como da agressão (guerra) vinda de agentes externos (estrangeiros). De acordo com a terminologia geralmente aceita, o governo é definido como um monopólio territorial da lei e da ordem (o impositor e decisor final).
A incompatibilidade clara entre essas duas proposições raramente causou preocupação entre economistas e filósofos e, na medida em que a causou, a reação típica foi de tomar a segunda proposição como exceção a primeira ao invés do contrário.
Os colaboradores para este volume desafiam este ponto de vista “ortodoxo” e oferecem tanto uma sustentação empírica quanto teórica para uma tese contrária: de que é a segunda proposição, e não a primeira, que é falsa e deveria ser rejeitada.
No que diz respeito às evidências empíricas — históricas —, os apologistas da visão ortodoxa enfrentam uma dificuldade óbvia. O recentemente acabado século XX foi caracterizado por um nível de violação dos direitos humanos inigualável em toda história humana. Rudolph Rummel, em seu livro Death by Government, estima em torno de 170 milhões de mortes causadas pelo governo no decorrer do século XX. A evidências históricas nos dão o parecer de que, ao em vez de serem considerados como protetores da vida, da liberdade e da procura pela felicidade de seus cidadãos, os governos devem ser considerados a maior ameaça à segurança humana.
Proponentes do ponto de vista ortodoxo (querendo se compromissar com a primeira tese a respeito do “mal” do monopólio a fim manter a segunda tese que diz respeito sobre a necessidade do governo estatal) não podem ignorar totalmente estas evidências contrárias que parecem esmagadoras. Se eles pretendem salvar da refutação a tese de que o governo é indispensável para haver a providência da lei e da ordem, é necessário revisar a segunda tese. A experiência nos mostra que alguns Estados são agressores, não protetores. Portanto, se não formos descartar a segunda tese por completo, é necessária uma especificação adicional: é possível afirmar apenas que alguns Estados protegem.
Consequentemente, em vez de culpar o governo como tal pelos tristes registros de segurança, em particular durante o século passado, várias tentativas foram feitas para explicar esses registros como resultados de formas específicas de governos. Numerosos cientistas políticos, inclusive o já mencionado Rummel, tentaram mostrar por vários meios estatísticos que a causa dessas “anomalias” do século XX foi a ausência de um governo democrático. Evidentemente, democracias vão a guerra contrarregimes não democráticos, mas supostamente não contra outras democracias. Portanto, parece que — e esta tese tornou-se parte do folclore neoconservador americano —, uma vez que o sonho Wilsoniano de “tornar o mundo seguro para a democracia” ter se realizado, haverá eterna paz e segurança.
Em uma vertente semelhante, economistas políticos, tais como James Buchanan e a escola de “economia constitucional”, sugeriram que os evidentemente miseráveis registros dos governos no tocante à provisão da segurança interna e externa poderiam ser sistematicamente melhorados por meio de reformas constitucionais destinados a estrita limitação dos poderes governamentais.
Ambas as explicações são examinadas e rejeitadas neste volume. Quanto às teses da natureza pacífica da democracia, vários colaboradores notaram que, de acordo com historiadores militares como J.F.C. Fuller e M. Howard, tal tese reside numa leitura seletiva ou até mesmo errônea dos registros históricos. Deixe-me mencionar apenas duas de tais más leituras. Primeiro, como essa tese lida explica um contraexemplo tão evidente como a Guerra de Independência Sulista (A Guerra entre os Estados) com sua brutalidade até então inigualável? Resposta: excluindo e ignorando-a ou minimizando sua significância.
Em segundo lugar, apologistas da tese da democracia pacifista geralmente sustentam seus pontos classificando as monarquias tradicionais e ditaduras modernas como autocráticas e não democráticas, contrastando ambas com o que classificam como genuínas “democracias”. Mesmo historicamente (caso algum agrupamento desse tipo deva ser feito), é a democracia e a ditadura que, na verdade, deveriam ser agrupadas juntas. Monarquias tradicionais apenas se assemelham superficialmente a ditaduras. Ao invés disso, ditaduras são uma consequência habitual da democracia de massa. Lenin, Stalin, Hitler e Mao eram governantes manifestamente democráticos comparados com os antigos imperadores da Rússia, Alemanha, Áustria e China. Com efeito, Lenin, Stalin, Hitler e Mao (e quase todos seus menos significantes e menos conhecidos sucessores) foram francos em seus ódios por tudo aquilo que é monárquico e aristocrático. Eles sabiam que deviam sua subida ao poder graças às políticas democráticas de massa que empregavam (eleições, referendos, comícios de massa, propaganda da mídia de massa, etc.) durante seus regimes.
Por outro lado, quanto à proposta de reformas constitucionais destinadas a limitar o poder do Estado, vários colaboradores a este volume explicam que qualquer tentativa desse gênero deve ser considerada como fútil e ineficiente, à medida em que a interpretação e imposição de tais limitações são legadas ao próprio governo ou para um de seus órgãos. Como, por exemplo, uma suprema corte governamental. (Veja mais sobre isso abaixo)
Para os colaboradores deste volume há uma terceira tese, adiantada pelo economista Ludwig von Mises, que pode ser considerada uma combinação das últimas teses. Mises faz a asserção de que, para poder realizar sua função primária enquanto provedor da segurança, um governo deve satisfazer duas condições: deve ser democraticamente organizado e, principalmente, deve permitir secessão ilimitada.
Quando os habitantes de um determinado território (seja uma simples vila, todo um distrito, ou uma série de distritos adjacentes) manifestarem, por meio de um plebiscito conduzido livremente, que desejam não mais permanecer ligados ao Estado a que pertencem, seus anseios devem ser respeitados e cumpridos. Este é o único meio possível e o mais efetivo de evitar revoluções e guerras internacionais. (Ludwig von Mises, Liberalism [Irvington-on-Hudson, New York: Foundation for Economic Education, and San Francisco, Calif.:Cobden Press, 1985], p. 109)
Um evidente aspecto desta tese é que ela nos fornece uma explicação plausível dos eventos Guerra de Independência Sulista. Assim, até 1861, a existência de um direito de secessão nos EUA era tomada como garantida, e a União não era nada mais que uma associação voluntária de Estados independentes; mas quando o anseio pelo direito irrestrito de secessão não foi mais respeitado, o Estado foi de protetor a um agressor. A tese de Mises é tratada com bastante seriedade neste volume, e o papel da secessão como um meio para limitar ou escapar da depredação do governo é enfatizada repetidas vezes.
Entretanto, ao requisitar um Estado protetivo que permita secessão irrestrita de sua jurisdição, a explicação de Mises essencialmente torna o Estado uma associação voluntária de indivíduos com impostos no valor devido para se associar e pagos (ou retidos) voluntariamente. Com um direito ilimitado de sucessão até mesmo para residências individuais, o governo não é mais um “Estado”, mas um clube. Consequentemente, estritamente, a Tese de Mises tem de ser considerada uma rejeição da segunda proposição em vez de ser tratada como uma mera revisão dela. Os colaboradores para este volume concordam com isso, não só por razões empíricas, mas também por razões de ordem teórica.
Toda tentativa de explicação para a performance lúgubre dos governos (Estados) enquanto fornecedor da segurança como inerente na natureza do governo estatal deve começar com uma definição precisa do que é o governo estatal (o Estado). A definição de Estado utilizada neste volume é incontroversa. Corresponde rigorosamente a definição proposta por Thomas Hobbes e adotada até os dias de hoje por incontáveis filósofos políticos e economistas.
De forma breve, Hobbes argumentou que em seu estado de natureza, o homem estaria constantemente em conflito. Homo homini lupus est. Cada indivíduo, caso fosse deixado por conta própria, gastaria pouco em recursos para se defender. Consequentemente resultando num estado de guerra interpessoal permanente. A solução para essa situação presumivelmente intolerante, de acordo com Hobbes e seus seguidores, é a instituição do Estado (governo). Visando instituir uma cooperação pacífica — segurança — entre si, dois indivíduos, A e B, necessitam de uma terceira parte independente, S, como juiz e pacificador final. Entretanto, essa terceira parte, S, não é apenas outro indivíduo, e os bens providenciados por S, que são os da segurança, não é apenas mais um bem “privado”. Mais que isso, S é um soberano e possui como tal dois poderes únicos. Por um lado, S pode insistir que seus súditos, A e B, não procurem proteção de ninguém que não seja ele; isto é, S é um monopolista territorial compulsório da defesa e da tomada de decisão (jurisdição). Por outro lado, S pode determinar unilateralmente (sem consentimento unânime) o quanto A e B devem pagar pela própria defesa deles; isto é, S tem o poder de impor taxas para providenciar segurança “coletivamente”.
Baseado nessa definição como um monopolista territorial compulsório da segurança e da jurisdição equipado com o poder de taxar sem consentimento unânime, os colaboradores para este volume argumentam que, independentemente do fato de um governo ser uma monarquia, uma democracia ou uma ditadura, qualquer noção de restrição do poder do Estado e de segurança da vida, liberdade e propriedade individual devem ser consideradas ilusórias. Sobre augúrios monopolistas, o preço da justiça e da proteção inevitavelmente aumenta tal como sua qualidade diminui. Uma agência de segurança sustentada por impostos é uma contradição em termos: é um expropriador protetor de propriedade que leva apenas a mais impostos e a menos proteção. Em verdade, mesmo que um Estados limite suas atividades exclusivamente a proteção da vida, liberdade e propriedade (como um Estado protetor do modo que Jefferson faria), surgiria a questão de quanta segurança fornecer. Motivado por interesse próprio, assim como todo mundo, e pela inutilidade do trabalho, mas com o poder único de taxar sem consentimento, a resposta de um governo será sempre a mesma: maximizar os gastos em segurança — e quase toda a riqueza de uma nação pode ser consumida pelo custo dessa proteção — e, ao mesmo tempo, minimizar a produção da segurança.
Além disso, um monopólio da jurisdição leva a uma deterioração na qualidade da justiça e da segurança. Se é possível apelar por justiça e segurança apenas ao Estado, ambas serão distorcidas a favor do governo — a despeito de constituições e cortes supremas. No final, cortes supremas e constituições acabam por ser constituições estatais e cortes estatais. Ou seja, independentemente de quais limitações são feitas ao governo, elas são justamente determinadas por agentes da mesmíssima instituição. Consequentemente, as definições de vida, liberdade e propriedade e a proteção das mesmas serão continuamente alteradas e o alcance da jurisdição estatal será expandido para favorecer o Estado.
A primeira pessoa a fornecer uma explicação sistemática para a aparente falha dos governos enquanto provedores da segurança foi Gustave de Molinari (1818-1912) — um proeminente economista francês, natural da Bélgica, aluno de Jean-Baptiste Say e professor de Vilfredo Pareto que foi, por várias décadas, editor do Journal des Économistes, do jornal profissional da Associação Francesa de Economia e da Société d’Économie politique. O argumento central de Molinari se encontra em seu artigo “De la Production de la Sécurité” de fevereiro de 1849. O argumento merece uma citação pelo seu rigor teórico e sua noção visionária:
Se existe uma verdade bem estabelecida na economia política, é esta: Que em todos os casos, para todas as mercadorias que servem à provisão das necessidades tangíveis ou intangíveis do consumidor, é do maior interesse dele que o trabalho e o comércio permaneçam livres. Pois a liberdade do trabalho e do comércio tem, como resultado necessário e permanente, a redução máxima do preço.
E esta: Que os interesses do consumidor de qualquer mercadoria devem sempre prevalecer sobre os interesses do produtor.
Assim, ao seguirmos esses princípios, chegamos a esta rigorosa conclusão:
Que a produção de segurança deveria, nos interesses dos consumidores desta mercadoria intangível, permanecer sujeita à lei da livre competição.
De onde se segue: Que nenhum governo deveria ter o direito de impedir que outro governo entrasse em competição com ele ou que requeresse que os consumidores adquirissem exclusivamente seus serviços.
Ou isto é lógico e verdadeiro, ou os princípios sobre os quais a ciência econômica está baseada são inválidos. (Gustave de Molinari, Production of Security, J.H. McCulloch, trans. [New York: Center for Libertarian Studies, 1977], pp. 3–4)
De Molinari previu, então, o que aconteceria se a produção da segurança fosse monopolizada:
Se, pelo contrário, o consumidor não for livre para comprar segurança de quem quiser, imediatamente se verá abrir uma grande profissão dedicada à arbitrariedade e ao mal gerenciamento. A justiça se tornará lenta e custosa, a polícia incômoda, a liberdade individual não é mais respeitada, o preço da segurança será abusivamente inflado e iniquamente dividido, de acordo com o poder e a influência dessa ou daquela classe de consumidores.
Quase todos os contribuidores a este volume prestam homenagem de forma explícita ao insight inovador de Molinari. Sendo assim, o presente volume é dedicado à memória de Gustave de Molinari.
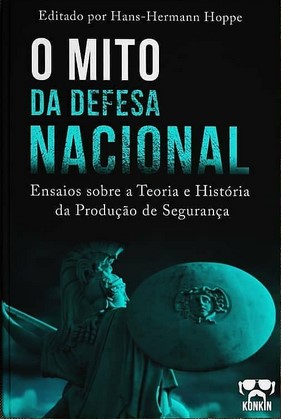 Se a explicação de Molinari da performance medonha dos governos como fornecedores da segurança pela própria natureza de serem monopolistas territoriais coercitivos da lei e da ordem for aceita, então a questão acerca das alternativas ao governo vem à tona. O conteúdo deste volume consiste em contribuições para a missão de encontrar alternativas privadas e voluntárias (produzidas pelo mercado) para a fracassada e fundamentalmente sistema da proteção estatal. Poderia um sistema alternativo baseado na livre competição dos serviços de segurança funcionar? Como seria seu funcionamento? Baseando-se em evidências históricas e na lógica econômica, quão efetivas seriam as alternativas privadas tais como mercenários, guerrilhas, milícias e corsários? Quais seriam as consequências da proliferação livre de material bélico, especialmente de armas nucleares? Qual seria o papel da ideologia e da opinião pública nas guerras? A segurança é um bem ‘’público’’ ou ‘’privado’’? Poderia a segurança ser providenciada por livres competidores e agências de seguro? Como a “lógica” competitiva das proteções por seguro difere da “lógica” monopolista estatal? Como pode a transição de um sistema monopolista para um sistema de guarda e vigilância competitivo ser alcançada? Qual o papel da secessão nesse processo? Como sociedades sem estado — de ordem natural — poderiam possivelmente se defender de incursões por parte dos exércitos estatais? Essas são as principais questões respondidas no presente volume por uma assembleia internacional de contribuidores nas áreas da filosofia, economia, sociologia, história e ciência política.
Se a explicação de Molinari da performance medonha dos governos como fornecedores da segurança pela própria natureza de serem monopolistas territoriais coercitivos da lei e da ordem for aceita, então a questão acerca das alternativas ao governo vem à tona. O conteúdo deste volume consiste em contribuições para a missão de encontrar alternativas privadas e voluntárias (produzidas pelo mercado) para a fracassada e fundamentalmente sistema da proteção estatal. Poderia um sistema alternativo baseado na livre competição dos serviços de segurança funcionar? Como seria seu funcionamento? Baseando-se em evidências históricas e na lógica econômica, quão efetivas seriam as alternativas privadas tais como mercenários, guerrilhas, milícias e corsários? Quais seriam as consequências da proliferação livre de material bélico, especialmente de armas nucleares? Qual seria o papel da ideologia e da opinião pública nas guerras? A segurança é um bem ‘’público’’ ou ‘’privado’’? Poderia a segurança ser providenciada por livres competidores e agências de seguro? Como a “lógica” competitiva das proteções por seguro difere da “lógica” monopolista estatal? Como pode a transição de um sistema monopolista para um sistema de guarda e vigilância competitivo ser alcançada? Qual o papel da secessão nesse processo? Como sociedades sem estado — de ordem natural — poderiam possivelmente se defender de incursões por parte dos exércitos estatais? Essas são as principais questões respondidas no presente volume por uma assembleia internacional de contribuidores nas áreas da filosofia, economia, sociologia, história e ciência política.















“Uma pistola de $50 no cockpit faria o que $400 bilhões nas mãos do governo não puderam fazer”
Só rindo mesmo, não tem o que dizer…
Hoje esses vagabundos fazem a mesma coisa com esses $400 bilhões para matar um vírus que uma aspirin de $3 resolveria – for fever and pain…
(…)estima em torno de 170 milhões de mortes causadas pelo governo no decorrer do século XX(…) ´´e bastante curioso que quando um governo leva ás últimas consequências o seu direito de revidar uma agressão injusta, ou seja, bombardeando civis em retaliação, a tendência é considerar este governo um agressor, quando na verdade, foi o próprio governo que iniciou o conflito é o culpado. Assim, qualquer governo inicie uma guerra de agressão contra outro, confirma a tese que governos não cuidam da segurança de ninguém…
Os ataques americanos e ingleses contra alvos civis alemães em 1944 foram crimes de guerra. Mas a propaganda nazista sobre isso foi tão grande que a culpa da destruição das cidades não recaiu sobre os defensores, o que está mais correto, considerando não providenciaram defesas. O comando de bombardeios aliados por conta disso, foi o único grupo combatente a não ser citado no discurso da vitória, apesar de 55.000 aviadores terem sido mortos a serviço das democracias totalitárias…
“A experiência nos mostra que alguns Estados são agressores, não protetores”
E o jornais nos dizem que sempre são os maiores estados os agressores, ou seja, os liberais chupa bolas do imperialismo americano/europeu não aceitam que já vivemos sob a lei do mais forte…
“Evidentemente, democracias vão a guerra contra regimes não democráticos, mas supostamente não contra outras democracias”
Eu acredito nesta tese, de que democracias não costumam entrar em guerras contra outras. Mas isso é apenas uma pequena parte da história, ou apenas uma questão de estado. Ou seja, é apenas uma política deliberada por parte do sistema que se impôs algumas regras em relação a política externa, nada além disso. Assim, eu posso me sentir mais tranquilo que os americanos não vão acordar um dia de mau humor e bombardear minha cidade. Posso dizer que sou feliz por não ter $400 bilhões na porta de casa, mas um simples robocop do governo local com seu 38 de numeração raspada acabando com a aglomeração da minha festa de aniversário. Como não agradecer ao governo por tudo isso?
De todo a forma, além da guerra de agressão do ianques contra os estados do sul, devemos lembrar que a Inglaterra, uma suposta democracia, afundou uma parte da marinha da aliada França – outra democracia, na segunda guerra mundial, supostamente para não serem usadas pelos alemães… a história do estatismo contradiz diariamente o sonho liberaleco do estado mínimo…
A grosso modo, uma democracia não atacar outra como uma lenda política razoável, também deve ser levado em consideração um certo esgotamento do próprio estado em mobilizar recursos para guerras em larga escala, não um suposto pacifismo democrático. Desde a guerra do Vietnã, os governos não conseguem mobilizar exércitos em larga escala, todos eles.
“Baseando-se em evidências históricas e na lógica econômica, quão efetivas seriam as alternativas privadas tais como mercenários, guerrilhas, milícias e corsários?”
Não chego a dizer que viveríamos as mil maravilhas, pois eu não sou um liberalóide que acha que o mercado é um deus supremo. Defendo a ética-jurídica libertária, então eu sei que tem muito empresário que coloca água no leite. Uma minoria, mas tem. Com a abolição do estado poderiam surgir máfias na segurança? não sei, talvez. O importante aqui é uma única certeza: nenhuma agência privada teria legitimidade para me desarmar dizendo ser para o meu próprio bem…
Concordando com mestre Kogos: se a segurança é privada, eu posso dormir com a janela aberta. A segurança estatal só me diz para não sair de casa a noite porque é perigoso…