[A versão original deste artigo foi proferido na Segunda Conferência Anual de Estudiosos Libertários, na cidade de Nova York, em 26 de outubro de 1974, como resposta a um estudo de Leonard Liggio.]
 Na mentalidade acadêmica popular, a doutrina do conflito de classes parece estar inextricavelmente ligada à versão marxista particular dessa ideia. Muita retórica é utilizada – especialmente por aqueles ávidos para menosprezar as reivindicações de originalidade de Marx e Engels – ao fato de que esses autores tiveram precursores nessa abordagem da realidade social.
Na mentalidade acadêmica popular, a doutrina do conflito de classes parece estar inextricavelmente ligada à versão marxista particular dessa ideia. Muita retórica é utilizada – especialmente por aqueles ávidos para menosprezar as reivindicações de originalidade de Marx e Engels – ao fato de que esses autores tiveram precursores nessa abordagem da realidade social.
Frequentemente fazem alusões a uma certa “escola francesa”, que teria precedido Marx e Engels e influenciado seus pontos de vista; Guizot, Thierry, Saint-Simon e alguns outros são às vezes mencionados a esse respeito. Mas raramente é abordado em que consistia essa perspectiva anterior, e como ela diferiria do modelo marxista mais familiar. E, no entanto, essa visão anterior não é apenas mais correta e fiel à realidade socioeconômica do que a versão marxista (um ponto que deve ser assumido aqui, uma vez que não há espaço para demonstrá-lo), mas também pode muito bem explicar uma discrepância e contradição dentro do marxismo que foi notada e comentada, mas nunca explicada.
Quando Marx diz que a burguesia é a principal classe exploradora e parasitária da sociedade moderna, a “burguesia” pode ser entendida de duas maneiras diferentes. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, tende a sugerir a classe de capitalistas e empresários que ganha a vida comprando e vendendo no (mais ou menos) livre mercado. O mecanismo dessa exploração envolveria o aparato conceitual marxista clássico da teoria do valor-trabalho, a apropriação da mais-valia pelo empregador e assim por diante.
No continente, no entanto, o termo “burguesia” não tem essa conexão necessária com o mercado. Ele pode facilmente significar a classe dos “funcionários públicos” e rentistas da dívida pública como a classe dos empresários envolvidos no processo de produção social.[1] Que essas antigas classes e seus aliados estejam engajados na exploração sistemática da sociedade era um lugar-comum do pensamento social do século XIX, de alguma forma misteriosamente perdido de vista à medida que essas mesmas classes alcançaram maior proeminência nas nações de língua inglesa.
Tocqueville, por exemplo, em suas Lembranças, afirma sobre “a classe média”, que os historiadores nos dizem que chegou ao poder em 1830 sob a ” monarquia burguesa” de Luís Filipe: “Ela se entrincheirou em todos os lugares vagos, aumentou prodigiosamente o número de lugares e se acostumou a viver quase tanto do Tesouro quanto de sua própria indústria”.[2] Declarações semelhantes podem ser encontradas em muitos autores posteriores, como Gustave Le Bon e Hippolyte Taine.
Agora, o leitor é convidado a considerar a seguinte citação longa (a descrição é da França no terceiro quarto do século XIX):
“Esse poder executivo, com sua enorme burocracia e organização militar, com sua engenhosa máquina estatal, abrangendo amplas camadas, com uma multidão de funcionários de meio milhão, além de um exército de outro meio milhão, esse terrível corpo parasitário, que enreda o corpo da sociedade francesa como uma rede e sufoca todos os seus poros, surgiu nos tempos da monarquia absoluta. A monarquia legitimista e a monarquia de julho não acrescentaram nada além de uma maior divisão do trabalho, crescendo na mesma medida em que a divisão do trabalho dentro da sociedade burguesa criou novos grupos de interesses e, portanto, novo material para a administração do Estado. Todo interesse comum foi imediatamente separado da sociedade, contraposto a ela como um interesse geral superior, arrebatado da atividade dos próprios membros da sociedade e transformado em objeto de atividade governamental, de uma ponte, uma escola e a propriedade comunal de uma comunidade de aldeia às ferrovias, à riqueza nacional e à universidade nacional da França. Todas as revoluções aperfeiçoaram esta máquina em vez de esmagá-la. As partes que disputavam por sua vez a dominação consideravam a posse deste enorme edifício estatal como o principal despojo do vencedor … sob o segundo Bonaparte [Napoleão III] … o estado [parece] ter se tornado completamente independente. Em relação à sociedade civil, a máquina do Estado consolidou sua posição … completamente.”[3]
Esta longa citação é do panfleto de Marx, O 18 Brumário de Luís Bonaparte, que trata do golpe de Estado de Luís Napoleão em dezembro de 1851. Acho que o contraste entre o ponto de vista apresentado aqui e a visão marxista mais habitual do Estado como uma arma para impor a exploração econômica extrapolítica – do Estado como meramente “o comitê executivo da classe dominante” – é evidente. E essa afirmação de forma alguma está sozinha no corpus do marxismo: em A Guerra Civil na França, Marx toca na mesma perspectiva, quando fala, por exemplo, do objetivo da Comuna de Paris de restaurar “ao corpo social todas as forças até então absorvidas pelo parasita do Estado que se alimenta e obstrui o livre movimento da sociedade”.[4] E Engels, em seu prefácio de 1891 para A Guerra Civil na França, se expressa em termos absolutamente inequívocos:
“A sociedade tinha criado originalmente os seus órgãos próprios, por simples divisão de trabalho, para cuidar dos seus interesses comuns. Mas estes órgãos, cuja cúpula é o poder de Estado, tinham-se transformado com o tempo, ao serviço dos seus próprios interesses particulares, de servidores da sociedade em senhores dela. Como se pode ver, por exemplo, não meramente na monarquia hereditária mas igualmente na república democrática. Em parte alguma os «políticos» formam um destacamento da nação mais separado e mais poderoso do que precisamente na América do Norte [nos Estados Unidos]. Ali, cada um dos dois grandes partidos aos quais cabe alternadamente a dominação é ele próprio governado por pessoas que fazem da política um negócio, que especulam com lugares nas assembleias legislativas da União e de cada um dos Estados, ou que vivem da agitação para o seu partido e são, após a vitória deste, recompensados com cargos. É sabido que os americanos procuram, desde há trinta anos, sacudir este jugo tornado insuportável e que, apesar de tudo, se atascam sempre mais fundo nesse pântano da corrupção. É precisamente na América que podemos ver melhor como se processa esta autonomização do poder de Estado face à sociedade, quando originalmente estava destinado a ser mero instrumento desta. Não existe ali uma dinastia, uma nobreza, um exército permanente — exceptuados os poucos homens para a vigilância dos índios — nem burocracia com emprego fixo ou direito à reforma. E, não obstante, temos ali dois grandes bandos de especuladores políticos que, revezando-se, tomam conta do poder de Estado e o exploram com os meios mais corruptos para os fins mais corruptos — e a nação é impotente contra estes dois grandes cartéis de políticos pretensamente ao seu serviço, mas que na realidade a dominam e saqueiam.”[5]
Podemos, de passagem, notar a bela ironia do fato de que, ao contrário de uma análise libertária do período da história americana em discussão, a análise de Engels aqui ignora completamente o uso massivo do poder estatal por segmentos da classe capitalista e se limita às atividades exploradoras daqueles que controlam diretamente o aparato estatal. Por que Engels deveria se preocupar em encobrir os capitalistas dessa maneira, eu realmente não sei dizer.
Parece, portanto, que existem duas teorias do Estado (bem como, correspondentemente, duas teorias da exploração) dentro do marxismo. Há a habitualmente discutida e muito familiar, do Estado como instrumento da classe dominante (e a teoria concomitante que localiza a exploração dentro do processo de produção). E há a teoria do Estado que a coloca contra “sociedade” e “nação” (dois termos surpreendentes e significativos de se encontrar neste contexto em autores que estavam supremamente conscientes das divisões de classe dentro da sociedade e da nação). Além disso, parece sugestivo que seja a segunda teoria que predomina nos escritos de Marx que, por causa de seu tratamento matizado e sofisticado da realidade política concreta e imediata, muitos comentaristas consideraram as melhores exposições da análise histórica marxista.
Agora, embora seja difícil demonstrar, parece altamente provável que a segunda teoria do Estado (ligando-a ao parasitismo e à exploração) certamente tenha sido influenciada pelos autores liberais clássicos. A visão de que a exploração e o parasitismo sobre a sociedade eram atributos das classes não mercantis, das classes que estavam fora do processo de produção, era muito difundida no início e meados do século XIX. É a base da famosa parábola de Saint-Simon (ela própria um resíduo de influências liberais anteriores sobre esse escritor). É o verdadeiro significado, parece-me, da célebre tipologia de sociedades “militares” versus “industriais” – uma tipologia fundada na distinção entre forças de mercado e não de mercado. (Essa dicotomia foi empregada por Auguste Comte e Herbert Spencer – muitas vezes considerados os fundadores da sociologia – e em termos diferentes, e antes, por Benjamin Constant.[6])
O grau em que se encontram os conceitos de classes e conflito de classes usados nesse sentido no liberalismo dos séculos XVIII e XIX, uma vez que se procura por isso, é surpreendente. Para dar dois exemplos: é claramente disso que Tom Paine está falando em Os Direitos do Homem, quando fala de governos fazendo guerra para aumentar os gastos; e o que William Cobbett está querendo dizer quando chama o ouro de dinheiro do pobre, já que a inflação é um dispositivo utilizado por certos círculos financeiros conhecedores e influentes.
Esses conceitos, em particular, permeiam os escritos de Richard Cobden e John Bright, que se concebiam como travando uma luta em nome das classes produtoras da Grã-Bretanha contra a aristocracia, que apoiava um governo expansivo. Sobre a agitação da Lei Anti-Milho, Bright disse: “Duvido que possa ter qualquer outro caráter [que não seja o de] … uma guerra de classes. Acredito que este seja um movimento das classes comerciais e industriais contra os senhores e os grandes proprietários do solo.[7] A classe “comedora de impostos” versus “pagadora de impostos” era um contraste que especialmente Bright gostava de usar. Ambos os homens viam o conflito de classes em toda a Grã-Bretanha – e Irlanda – de seu tempo: no protecionismo e na monopolização da terra, é claro, mas também em políticas como pesados impostos sobre papel de jornal, dízimos da Igreja e limitação da franquia e, mais particularmente, em gastos com preparação para a guerra e em uma política externa beligerante e imperialismo. Como Bright colocou:
“Quanto mais você examinar o assunto, mais chegará à conclusão a que cheguei, que essa política externa, essa consideração pelas “liberdades da Europa”, esse cuidado ao mesmo tempo com os “interesses protestantes”, esse amor excessivo pelo “equilíbrio de poder”, não é nem mais nem menos do que um gigantesco sistema de ajuda ao ar livre para a aristocracia da Grã-Bretanha.”[8]
Mais tarde no mesmo século, Bright identificou outras classes como promotoras do imperialismo. No caso da ocupação britânica do Egito em 1882, Bright (que renunciou ao gabinete por causa disso) acreditava que a cidade de Londres (ou seja, interesses financeiros) estava em ação e, de acordo com seu biógrafo, “ele não achava que deveríamos nos envolver em uma série de guerras para cobrar as dívidas dos detentores de títulos ou encontrar novas terras para exploração comercial.”[9] Ele concordou com seu amigo Goldwin Smith, o historiador liberal clássico e anti-imperialista, que lhe escreveu que era simplesmente uma “guerra de negociantes de ações”.[10] Isso foi muito depois da morte de Cobden, mas este sem dúvida teria concordado. Certa vez, ele escreveu: “Não ofereceremos desculpas para resolver com tanta frequência questões de política estatal em questões de cálculo pecuniário. Quase todas as revoluções e grandes mudanças no mundo moderno têm origem financeira.”[11]
Lendo passagens como essas, pergunta-se como o cientista social contemporâneo – desprovido da teoria libertária do conflito de classes – teria que interpretar tais pontos de vista. A análise teria que ser que existem “elementos marxistas inesperados” presentes até mesmo no pensamento dos principais liberais. Ou, mais provavelmente, em vista de os manchesteristas terem olhado de soslaio para a influência dos interesses financeiros na política do governo, haveria uma análise ao longo das linhas do “protofascismo pequeno-burguês inicial”!
A este respeito, devemos considerar a mudança de certos liberais franceses — como Charles Dunoyer — da anglomania para a anglofobia. Essa transformação, mencionada pelo professor Liggio, é muito interessante quando contraposta à percepção da Escola de Manchester sobre a sociedade, a política externa e o imperialismo britânicos. Cobden e Bright eram críticos do status quo na Grã-Bretanha e na Irlanda, sempre chatos, irritando especialmente aqueles que dirigiam as relações exteriores do país. (É de Bright a grande frase: “O que devemos dizer de uma nação que vive sob a ilusão perpétua de que está prestes a ser atacada?”[12])
Os poseurs conservadores contemporâneos concordariam inquestionavelmente com o fundador de sua raça, Benjamin Disraeli, que os homens de Manchester simplesmente não eram pessoas divertidas. Em vez disso, eles reclamavam incessantemente e assim se viam incapazes de simplesmente sentar e apreciar as fantasias e os símbolos do poder mundial britânico (um conhecido publicitário conservador americano nos informa que a capacidade de desfrutar da sociedade como ela é, é uma das principais marcas da mentalidade conservadora). Cobden, Bright e seus aliados estavam, ao contrário, engajados em uma crítica mortalmente séria, contínua e profundamente radical da sociedade britânica e do papel mundial da Grã-Bretanha. O seguinte, por exemplo, é um exemplo típico da atitude de Cobden em relação a esse papel:
“O partido da paz … nunca despertará a consciência do povo enquanto permitir que ele se entregue à ilusão reconfortante de que tem sido um povo amante da paz. Temos sido a comunidade mais combativa e agressiva que existiu desde os dias do domínio romano. Desde a Revolução de 1688, gastamos mais de 15 milhões de dólares em guerras, nenhuma das quais foi em nossas próprias costas, ou em defesa de nossos lares e casas.”[13]
Cobden fala de “nosso amor insaciável pelo engrandecimento territorial”, do fato de que “na insolência de nosso poder, e sem esperar pelos ataques de inimigos invejosos, saímos em busca de conquista ou rapina e levamos derramamento de sangue a todos os cantos do globo.”[14] Em um panfleto com o título realmente bonito, “Como as guerras são levantadas na Índia” (como Paul Goodman disse sobre A Função do Orgasmo, de Wilhelm Reich, é um clássico mesmo em virtude de seu título), Cobden adverte que a Inglaterra deve fazer “expiação e reparação oportunas” e “pôr fim aos atos de violência e injustiça que marcaram cada passo de nosso progresso na Índia,” ou então enfrentar a inevitável “punição providencial por crimes imperiais”.[15]
Haveria aqueles, supõe-se, que gostariam de falar de um certo “masoquismo” e “autoflagelação” nessas descrições das políticas seguidas pela classe dominante de seu próprio país; mas isso seria peculiarmente inadequado a uma personalidade tão vigorosa e enormemente vital como Richard Cobden.
(Há, aliás, uma linha direta de análise dos males e do caráter de classe do imperialismo, que vai de Cobden e Bright, passando por J.A. Hobson – que escreveu uma exposição interessante das visões de política externa de Cobden, Richard Cobden: International Man – até Lênin, que, como é bem conhecido, foi fortemente influenciado por Hobson; e essa genealogia de ideias certamente merece ser examinada de perto por algum estudioso libertário.)
Ora, Hayek diz em algum lugar que a atitude de um escritor em relação à Inglaterra pode ser tomada como altamente indicativa de seu liberalismo: se ele era pró-inglês, é provável que ele fosse amigável ao liberalismo e à sociedade aberta; se anti-inglês, então o contrário. Mas, à luz da atitude “anti-inglesa” dos manchesteritas, seria preciso qualificar isso em um aspecto importante – ou seja, haveria uma base para a “anglofobia”, fundamentada, não em oposição ao relativo liberalismo da Inglaterra, mas ao seu governo aristocrático e imperialista persistente ao longo do século XIX.
Assim, acho que o professor Liggio prestou um serviço muito valioso ao direcionar a atenção para um lugar e período formativo da teoria da exploração liberal-clássica: a França durante a Restauração e a Monarquia de Julho, e particularmente para o pensamento de Charles Comte e Dunoyer. (De Charles Comte, um escritor tão conhecedor da história da sociologia quanto Stanislav Andreski disse que ele é “um dos grandes fundadores da sociologia, injustamente ofuscado por seu homônimo Auguste”.[16])
O período foi de grande riqueza de especulação política e sociológica, bem refletida no estudo que acabamos de ouvir. As três grandes correntes do pensamento político moderno – as cores primárias a partir das quais praticamente todas as posições políticas posteriores podem ser compostas – já estão claramente delineadas: o conservadorismo e as várias escolas do socialismo, com suas críticas frequentemente sobrepostas à ordem capitalista emergente, e o liberalismo individualista, equidistante de ambos os dois primeiros. (A influência de conservadores teocráticos como de Maistre no pensamento de Saint-Simon, e dos saint-simonianos e Auguste Comte, é bem conhecida.)
Vários pontos do professor Liggio sobre as interconexões entre essas três correntes são muito esclarecedores e estimulantes: por exemplo, no que diz respeito ao significado interno e político da lei dos mercados de Say, e o significado dos fatos de que o “papa” saint-simoniano, Enfantin, apoiou Ricardo contra Say neste assunto; ou o ataque de Dunoyer ao autoritarismo intelectual de Saint-Simon por motivos que geralmente são associados ao de Sobre a liberdade, de Mill, que, é claro, veio substancialmente mais tarde. Algumas observações são necessárias em relação a outro tópico, a saber, o argumento de Dunoyer com Benjamin Constant sobre os efeitos “enervantes” de uma civilização em desenvolvimento e cada vez mais sofisticada.
O que está envolvido aqui no pensamento de Constant é um confronto entre as ideias de liberalismo, romantismo e utilitarismo. Resumidamente, a visão de Constant (não exclusivamente, mas na maioria das vezes) é a seguinte: a predominância do espírito comercial ou industrial sobre o espírito militar ou o espírito de conquista implica um estado relativamente próspero da sociedade, isto é, um estado onde o prazer e o conforto da criatura serão aumentados e mais amplamente distribuídos do que nunca.
Na verdade, este é presumivelmente o ideal utilitarista. Agora, tal estado, a longo prazo, tenderá a militar contra a sociedade livre, porque a defesa da liberdade frequentemente exigirá sacrifícios por parte do indivíduo, às vezes até o risco de perder a vida contra um tirano armado. Mas a disposição de sacrificar os prazeres de alguém ou de arriscar a vida por uma causa supraindividual é uma característica associada a formas anteriores e mais primitivas de sociedade. Assim, há uma certa contradição interna na sociedade livre, que só pode ser compensada colocando em jogo forças antiutilitárias, como a fé religiosa (este foi praticamente um estudo de Constant ao longo da vida).[17]
A “crítica” de Constant à civilização também tem um aspecto apolítico: ele tendia a identificar a civilização com uma intelectualidade sofisticada, com o espírito do século XVIII e do Iluminismo. Este foi o meio em que ele foi criado e, como muitos intelectuais, especialmente aqueles tocados pelo romantismo de Rousseau, ele estava cansado disso, e doente da parte de si mesmo que refletia esse espírito. Isto teve o efeito, pensou ele, de excluir sentimentos espontâneos, calor real de afeição e proximidade humana, substituindo um brilho superficial e perfeição de graças sociais externas e artificiais. O heroísmo e a poesia foram aniquilados pela ironia e ceticismo voltaireanos, ele acreditava, e eram mais prováveis de serem encontrados em sociedades anteriores e mais primitivas – ele era um grande amante da Grécia antiga – do que em sociedades mais complexas.
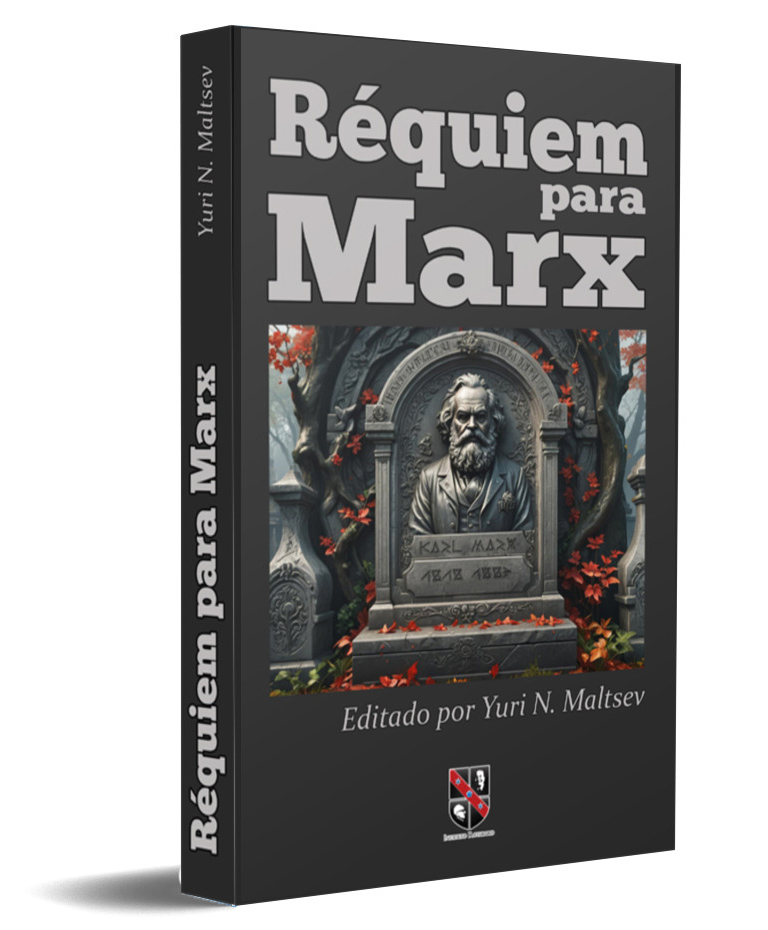 Tocqueville, aliás, baseou-se em ambas as noções de Constant – o problema da compatibilidade do utilitarismo e da sociedade livre e a mediocridade da vida moderna – e ajudou a espalhá-las.[18] A segunda ideia, particularmente, tornou-se amplamente compartilhada; é, por exemplo, o cerne do conceito de Max Weber sobre a crescente rotinização e burocratização do mundo moderno; e Irving Kristol parece estar criando uma reputação para si mesmo ao atualizar algumas das ideias de Constant e Tocqueville e apresentá-las àqueles que nunca leram Democracia na América.
Tocqueville, aliás, baseou-se em ambas as noções de Constant – o problema da compatibilidade do utilitarismo e da sociedade livre e a mediocridade da vida moderna – e ajudou a espalhá-las.[18] A segunda ideia, particularmente, tornou-se amplamente compartilhada; é, por exemplo, o cerne do conceito de Max Weber sobre a crescente rotinização e burocratização do mundo moderno; e Irving Kristol parece estar criando uma reputação para si mesmo ao atualizar algumas das ideias de Constant e Tocqueville e apresentá-las àqueles que nunca leram Democracia na América.
Por fim, o professor Liggio presta um grande serviço acadêmico ao continuar a explorar a rica veia da teoria social liberal-clássica, em tantos aspectos tão vergonhosamente negligenciada pelos acadêmicos do establishment. Nós mesmos, tendo testemunhado o tratamento miserável dispensado ao grande Mises – com base na suposição quase universal de que um Galbraith, um Harold Laski ou mesmo um Walter Lippmann era um filósofo social mais significativo – temos alguma ideia de por que o establishment deveria agir como se Saint-Simon ou Auguste Comte tivessem infinitamente mais a nos dizer sobre como a sociedade funciona do que Charles Comte, Benjamin Constant, ou Jean-Baptiste Say. O tipo de trabalho representado pelo estudo do professor Liggio ajudará a restabelecer o equilíbrio.
Artigo original aqui
Leia também: Raízes liberais clássicas da doutrina marxista das classes
A análise de classe marxista vs. a análise de classe austríaca
___________________________
Notas
[1] Cf. Raymond Ruyer, Eloge de la société de consommation (Paris: Calmann-Levy, 1969), pp. 144–145.
[2] Alexis de Tocqueville, Recollections, trans. Alexander Teixeira de Mattos (New York: Meridian, 1959), pp. 2–3.
[3] Karl Marx and Frederick Engels. Selected Works (Moscow: Progress, 1968), pp. 170–171.
[4] Ibid, p. 293. He adds: “The [Paris] Commune [of 1871] made that catchword of bourgeois revolutions, cheap government, a reality, by destroying the two greatest sources of expenditure — the standing army and State functionarism.
[5] Ibid., p. 261.
[6] Cf. his De l’esprit de conquête et de l’usurpation, in Oeuvres, Alfred Roulin, ed. (Paris: Pleiade, 1957).
[7] George Macaulay Trevelyan. The Life of John Bright (London: Constable, 1913), p. 141.
[8] “Speech at Birmingham, 29 October 1858,” in Alan Bullock and Maurice Shock, eds., The Liberal Tradition: From Fox to Keynes (Oxford: Oxford University Press, 1967), pp. 88–89.
[9] Trevelyan, op. cit., pp. 433–434.
[10] Ibid., p. 434.
[11] The Political Writings of Richard Cobden (New York: Garland, 1973) I, p. 238.
[12] Loc. cit., p. 89.
[13] Op. cit., II, p. 376.
[14] Ibid, p. 455.
[15] Ibid., p. 458.
[16] Stanislav Andreski, Parasitism and Subversion: The Case of Latin America (New York: Schocken, 1969), pp. 12–13.
[17] Cf. Ralph Raico, The Place of Religion in the Liberal Philosophy of Constant, Tocqueville and Lord Acton (unpublished PhD thesis, Committee on Social Thought, University of Chicago), pp. 1–68.
[18] Ibid., pp. 69–128, 178–183.















Vou apresentar a verdadeira Teoria da Exploração Clássica: o mundo contra a Igreja Católica. No momento em que assentimos intelectual que a carne e os meios materiais são meios e não fins (“para obter prazer”), para conhecer, amar e servir a Deus, nenhum tirano tem poder, sejam os estatistas ou os capitalistas do livre mercado randnoide.