[Este artigo foi a palestra apresentada na Liberland Constitution Reading, em Praga, no dia 19 de dezembro de 2025]
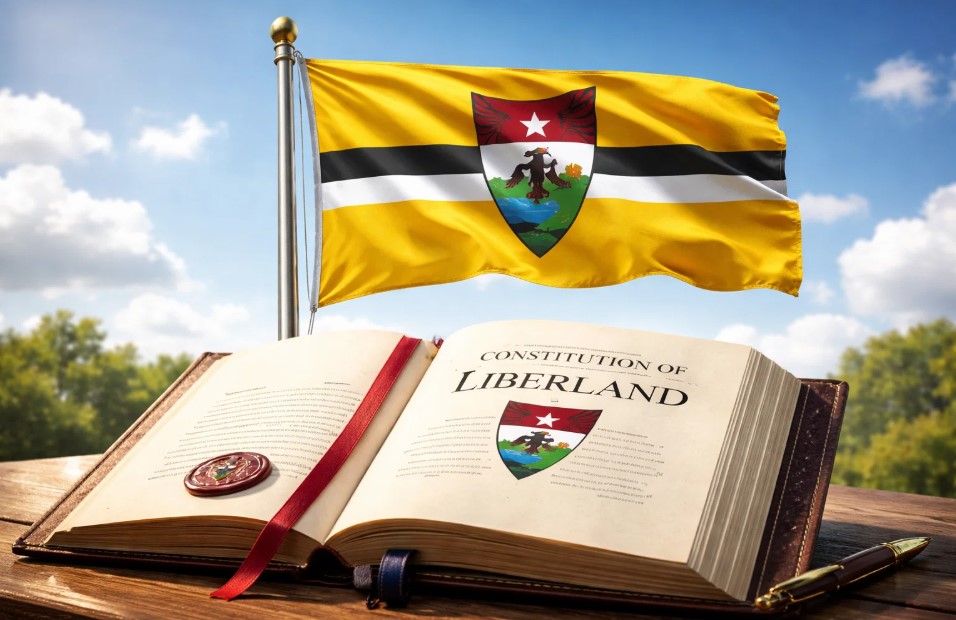 O maior problema para qualquer defensor da antiga e romântica utopia de um governo mínimo é encontrar uma forma de limitar os poderes do governo. Se você aceita a ideia de que um governo é um mal necessário para haver uma organização social ordenada, mas se, ao mesmo tempo, deseja garantir que essa instituição seja mantida dentro de certos limites, você está em busca do impossível. Exemplos empíricos e históricos dessa impossibilidade abundam: cada estado mínimo de “vigia noturno” evoluiu lentamente, expandindo seus poderes, tarefas e burocracias até se transformar nos Leviatãs modernos que todos conhecemos. Provavelmente o exemplo mais importante dessa necessidade lógica é representado pelo governo federal dos Estados Unidos da América. A enumeração rigorosa dos poderes federais promulgada pelos pais fundadores americanos deu lugar ao estabelecimento de uma das potências imperiais mais perigosas da história humana, com guerras intermináveis, bases militares ao redor do mundo e a auto-nomeação dos Estados Unidos no papel não correspondido de policial mundial. Outro paradigma é o dos estados liberais europeus. Seguindo o perigoso caminho do nacionalismo e da busca por prestígio e domínio internacional, os antigos governos mínimos da Europa arrastaram o mundo para a tragédia da Primeira Guerra Mundial, que é o ponto de virada histórico de uma evolução que estamos vivenciando após mais de um século de poderes governamentais cada vez maiores e liberdade individual cada vez menor. A Itália é outro exemplo. O gasto público agregado como porcentagem do PIB passou de 12-17% durante a era “liberal” para aproximadamente 30% durante a Primeira Guerra Mundial e o período entre guerras. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, o aumento dos gastos públicos foi constante e atingiu um máximo de 57% do PIB durante a crise da Covid. No entanto, ilustrações empíricas não são estritamente necessárias porque o crescimento constante dos governos é uma necessidade lógica. Aplicando a metodologia praxeológica, a impossibilidade de limitar os poderes do governo surge como uma conclusão necessária, independente de qualquer condição histórica dada.
O maior problema para qualquer defensor da antiga e romântica utopia de um governo mínimo é encontrar uma forma de limitar os poderes do governo. Se você aceita a ideia de que um governo é um mal necessário para haver uma organização social ordenada, mas se, ao mesmo tempo, deseja garantir que essa instituição seja mantida dentro de certos limites, você está em busca do impossível. Exemplos empíricos e históricos dessa impossibilidade abundam: cada estado mínimo de “vigia noturno” evoluiu lentamente, expandindo seus poderes, tarefas e burocracias até se transformar nos Leviatãs modernos que todos conhecemos. Provavelmente o exemplo mais importante dessa necessidade lógica é representado pelo governo federal dos Estados Unidos da América. A enumeração rigorosa dos poderes federais promulgada pelos pais fundadores americanos deu lugar ao estabelecimento de uma das potências imperiais mais perigosas da história humana, com guerras intermináveis, bases militares ao redor do mundo e a auto-nomeação dos Estados Unidos no papel não correspondido de policial mundial. Outro paradigma é o dos estados liberais europeus. Seguindo o perigoso caminho do nacionalismo e da busca por prestígio e domínio internacional, os antigos governos mínimos da Europa arrastaram o mundo para a tragédia da Primeira Guerra Mundial, que é o ponto de virada histórico de uma evolução que estamos vivenciando após mais de um século de poderes governamentais cada vez maiores e liberdade individual cada vez menor. A Itália é outro exemplo. O gasto público agregado como porcentagem do PIB passou de 12-17% durante a era “liberal” para aproximadamente 30% durante a Primeira Guerra Mundial e o período entre guerras. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, o aumento dos gastos públicos foi constante e atingiu um máximo de 57% do PIB durante a crise da Covid. No entanto, ilustrações empíricas não são estritamente necessárias porque o crescimento constante dos governos é uma necessidade lógica. Aplicando a metodologia praxeológica, a impossibilidade de limitar os poderes do governo surge como uma conclusão necessária, independente de qualquer condição histórica dada.
Os estados – ou os governos – são os tomadores de decisão finais sobre um determinado território e sobre seus súditos. A manifestação mais importante desse monopólio é o monopólio territorial weberiano da violência. A violência, no entanto, é apenas um dos sinais externos do monopólio da tomada de decisão e, muito frequentemente, a coerção não envolve uso real ou ameaça de violência porque os súditos seguem as ordens voluntariamente. Claro, os governos sempre têm a opção de recorrer à violência, mas é uma escolha custosa que não pode ser mantida de forma constante e sistemática. Portanto, a frase de Mao Zedong de que o poder cresce do cano de uma arma não é totalmente verdadeira. O verdadeiro poder decorre do monopólio da tomada de decisão e, por sua vez, esse monopólio deriva das mentes dos súditos, às vezes romantizado como o consentimento dos governados.
Uma relação semelhante ocorre no conhecido fenômeno da morte xamânica. Antropólogos observam que, em sociedades primitivas onde o chefe de uma comunidade é um xamã, punições infligidas por este último por meio de maldições mágicas frequentemente resultam na morte da vítima. É o oposto do efeito placebo na medicina. Tanto a vítima da maldição quanto o xamã estão convencidos da existência dos poderes mágicos do chefe, e uma convicção semelhante está na mente dos seus conterrâneos. O resultado é que a maldição funciona e o xamã parece ser capaz de infligir a morte por magia.
A relação de poder que caracteriza sociedades onde existem estados e governos pode ser comparada ao fenômeno primitivo da morte xamânica. A sujeição decorre da interação entre três forças. Primeiro, há a suposição geral – social – de que a estrutura coercitiva é legítima e pode impor sua vontade a todos. Não há necessidade dos participantes estarem plenamente convencidos; uma resignação à inevitabilidade do sistema é suficiente para mantê-lo funcionando. A frase popular sobre as duas inevitabilidades da vida – a morte e os impostos – é um paradigma dessa atitude: embora a coerção e a tributação sejam más e indesejadas como a morte, não há como evitá-las. Assim, a necessidade da relação coercitiva entre governantes e governados faz parte de uma crença compartilhada: as mentes dos súditos são doutrinadas desde a infância por meio de instrumentos de propaganda como escolas, instituições de ensino superior, televisão, imprensa, show-business e literatura. Assim, a relação de poder entre senhores e súditos é geralmente assumida como existente e legitimamente instituída. Um dever de obedecer corresponde a um poder de comando. Essa suposição geral influencia tanto a vítima quanto a pessoa que detém o poder. Não apenas esta última está convencida de seu poder, mas a vítima também está convencida de que o comando, mesmo que injusto, faz parte de um sistema inevitável e representa a única forma de organizar uma sociedade ordenada. Como na morte xamânica, temos uma crença social compartilhada sobre a existência de poderes arcanos que influenciam diretamente a vida e o comportamento das pessoas envolvidas, tanto do lado dominante quanto do lado subserviente recessivo.
Outro fator chave a ser considerado é o interesse próprio. Ao contrário da narrativa sobre o bem comum, todos os participantes da estrutura coercitiva representada por estados e governos (vítimas e senhores) agem em interesse próprio. Isso implica uma situação em que as pessoas mais atraídas por posições políticas ou por qualquer relação onde possam exercer poder sobre outras pessoas são invariavelmente aquelas que consideram o poder e a possibilidade de impor sua vontade aos outros um bem desejável. O poder é um fim buscado por si só. Assim, as pessoas mais atraídas por posições de poder são frequentemente pessoas borderline que pertencem ao espectro do transtorno de personalidade narcisista (TPN). Manipulação (gaslighting), fixação em um objetivo, falta de empatia, mentiras sistemáticas são traços comuns de pessoas afetadas pelo TPN que serão atraídas pelo jogo político. Em um círculo vicioso, quanto maior o poder que pode ser exercido, mais perigosos são os psicopatas que buscam alcançar as posições mais altas na política. Como observou Hans-Hermann Hoppe, essa tendência natural se torna pior se o método democrático for escolhido como forma de conceder acesso ao poder. A entrada aberta e a competição entre pessoas que disputam posições de poder garantem que os mentirosos e manipuladores mais implacáveis e eficazes sempre cheguem aos cargos mais altos. Se o poder for o objetivo, qualquer meio será considerado aceitável para alcançá-lo.
O poder do tomador de decisão final compreende o poder de tributar e tomar posse da riqueza de outras pessoas. Como observou Franz Oppenheimer:
“Há duas formas fundamentalmente opostas pelas quais o homem, requerendo sustento, é induzido a obter os meios necessários para satisfazer seus desejos. Trata-se de trabalho e roubo, o seu próprio trabalho e a apropriação violenta do trabalho dos outros…. proponho na discussão a seguir chamar o seu próprio trabalho e a equivalente troca do próprio trabalho pelo trabalho dos outros de o “meio econômico” para a satisfação das necessidades, enquanto a apropriação unilateral do trabalho dos outros será chamada “meio político”.
O estado é a organização dos meios políticos que atua principalmente como distribuidor de vantagens econômicas, árbitro da exploração, uma agência irresponsável e todo-poderosa, sempre pronta a ser usada em serviço a um conjunto de interesses econômicos contra outro.”
Portanto, mesmo pessoas que não se sentem atraídas pelo poder acabarão inevitavelmente aceitando um sistema caracterizado pelos “meios políticos”. A escolha racional é participar da apropriação forçada e organizada do trabalho e do tempo dos outros, em vez de ser um produtor explorado. Os incentivos para produção e inovação diminuem até que a sociedade atinja um ponto em que o fardo imposto aos governados é tão insuportável que a economia para. Esse é um cenário que tem sido observado repetidas vezes na história. Lactâncio, por exemplo, observa o seguinte sobre o reinado do imperador Diocleciano:
“Começaram a haver menos homens pagando impostos do que recebendo salários; de modo que os meios dos agricultores foram esgotados por enormes impostos, as fazendas foram abandonadas, os terrenos cultivados tornaram-se florestas e prevaleceu o desânimo universal. Além disso, as províncias eram divididas em pequenas partes, e muitos presidentes e uma multidão de oficiais inferiores se penduravam pesadamente em cada território, e quase em cada cidade. Também havia muitos administradores de diferentes graus e vice-presidentes. Pouquíssimas causas civis vieram diante deles: mas havia condenações diárias e confiscos frequentes; impostos sobre inúmeras mercadorias, e aqueles não só frequentemente repetidos, mas perpétuos e, ao executá-los, injustiças intoleráveis.”
Usando as mesmas métricas da Itália a partir da unificação, é fácil observar que o governo imperial romano evoluiu de um custo de aproximadamente 5% do PIB sob o imperador Augusto para a situação descrita por Lactâncio em menos de 300 anos. Novamente, evidências empíricas sugerem que o crescimento do governo é constante e que termina em um ponto de inflexão quando a relação de exploração se torna tão insuportável que se segue o colapso da estrutura coercitiva.
Consequentemente, o estado liberal mínimo do vigia noturno é uma utopia que nunca aconteceu na história e que vai contra a análise lógica da relação entre o tomador de decisão final e seus súditos. Não importa quão nobres sejam as intenções e quão astutas sejam as limitações legais inventadas e implementadas para limitar os poderes do governo, o fim sempre será aquele descrito por Lactâncio de forma tão vívida. No entanto, tentativas de conter o poder do tomador de decisão final são um dos temas centrais da filosofia política. Basicamente, existem três abordagens para limitar o poder dos estados e governos: direito internacional, democracia e constitucionalismo.
A relação entre os estados é caracterizada pela anarquia. Não existe uma autoridade abrangente que tenha o poder de resolver disputas entre governos. Assim, a solução vem da negociação e diplomacia ou, se esses meios se mostrarem insuficientes, do uso da força. A guerra é a aplicação do princípio que diz que “o poder determina o que é certo” às controvérsias entre estados. Tanto as relações contratuais quanto diplomáticas entre governos e as leis da guerra são consideradas pelo direito internacional. A ideia é aplicar princípios legais que impeçam os estados de se tornarem organizações de ladrões e saqueadores. O princípio do respeito aos acordos internacionais (pacta sunt servanda) e a existência de uma comunidade internacional de estados representam limites ao uso sistemático da violência pelos governos. Esse também é o objetivo da ONU e de outras organizações internacionais. Os meios empregados pelo direito internacional são tipicamente sanções econômicas, persuasão moral e, se tudo mais falhar, as chamadas guerras “justas” travadas de acordo com os princípios do direito internacional. No entanto, considerando a natureza do tomador de decisão final que todo estado reivindica sobre seu território, o direito internacional provou ser um limite muito fraco para os excessos do governo, especialmente se as vítimas forem os próprios cidadãos do estado, dado o princípio geral do direito internacional de não interferência nos assuntos internos de um país.
O outro sistema comumente indicado como defesa contra governos tirânicos e o sofrimento que eles impõem a seus súditos é a democracia. Um eleitor racional e egoísta deveria ser capaz de escolher o melhor político ou, pelo menos, o mal menor, garantindo que o governo não se torne excessivamente abusivo. O eleitor racional é um mito que não existe na realidade. Como Hans-Hermann Hoppe mostrou em seu estudo sobre democracia, os incentivos para fazer uma escolha racional são muito baixos na democracia. Todo eleitor está perfeitamente ciente de que seu voto individual é uma fração tão pequena da “vontade coletiva” que está destinado à irrelevância. O tempo e os esforços dedicados para encontrar o melhor candidato são, em sua maioria, desperdiçados. A probabilidade de que o melhor e menos intrusivo candidato seja eleito é muito baixa; assim, o voto informado e racional se mostrará completamente inútil. Por outro lado, a manipulação envolvida na política, tanto por meio de mentiras sistemáticas por parte daqueles que disputam cargos de poder quanto pela máquina de propaganda que orienta eleições e competições democráticas, levará os eleitores a votarem no candidato mais atraente com base em impressões, simpatias ou decisões irracionais. Além disso, a democracia agrava a relação de exploração que define qualquer estado. Enquanto os reis eram os donos de seus países e tinham a legítima expectativa de legar seu trono aos herdeiros, os presidentes democraticamente eleitos não têm direito ao valor do capital dos países que governam. Eles podem usar as receitas, mas o valor de capital é inacessível para eles. Portanto, a propriedade pública do valor do capital dos países democráticos, em vez de proteger o capital, torna sua destruição ainda mais provável. O político democraticamente eleito tem uma preferência temporal muito alta, geralmente limitada ao seu mandato. Não há planejamento para o futuro e projetos que durariam décadas não atraem políticos. Além disso, o interesse próprio impulsiona todo político a colher os benefícios do cargo público o mais rápido possível, sem considerar a necessidade de preservar o capital para as futuras gerações. Além disso, a destruição sistemática e apropriação de bens públicos ocorre impunemente porque a democracia tende a borrar as fronteiras entre governantes e governados. O acesso aberto a cargos de poder político impede que os políticos sejam percebidos diretamente como uma casta. Críticas à organização atual sempre podem ser canalizadas para ação política e usadas para reforçar o sistema: os críticos acabam se tornando parte da estrutura coercitiva. Além disso, a retórica democrática dificulta perceber a mudança ilógica representada pelas eleições democráticas. A mitologia política sustenta que os políticos democraticamente eleitos são meros representantes de seus eleitores e que existe um mandato político onde o eleitor é o principal e o político o agente. Nenhum eleitor, no entanto, detém os poderes conferidos aos políticos, nem mesmo uma pequena fração dele. Ninguém tem o poder de tributar, recrutar ou fazer guerra, porque tais atividades, exercidas em nível individual, seriam consideradas roubo, escravidão e assassinato em massa. No entanto, o sistema democrático confere tais poderes aos representantes eleitos: o mandato político possibilita conferir aos representantes poderes que os principais não possuem. Assim, a democracia é simplesmente um véu que esconde a relação real de poder que define os estados, induzindo os eleitores a acreditar que eles são o estado. Consequentemente, a participação nas eleições é equivalente a um consentimento implícito sobre o que o partido vencedor fizer, mesmo que o eleitor tenha votado no partido oposto. Por fim, o poder da maioria, que está no cerne das crenças democráticas, não tem justificativa racional. Por que o grupo maior de uma dada comunidade deveria ter o direito de impor sua vontade ao grupo menor é um conceito que desafia a racionalidade e não pode ser logicamente justificado. Para completar, o poder de tributar – que os eleitores não possuem e que, ainda assim, deveriam transferir para seus representantes – torna a inveja social aceitável na democracia. O candidato que promete aos seus eleitores taxar a minoria oposta pode contar com os votos entusiasmados de seu eleitorado, comprovando a frase de H.L. Mencken de que toda eleição é uma espécie de leilão antecipado de bens roubados.
Dada a inutilidade do direito internacional e da democracia, resta o constitucionalismo como último recurso para limitar os poderes de um governo. As constituições modernas derivam da ideia de vincular o rei ao respeito de certos direitos mínimos concedidos a seus súditos (habeas corpus, julgamento por júri, respeito à propriedade privada). A ideia era a assinatura de um contrato entre o rei, como detentor do poder político, e seus súditos. Foi um sistema inventado na Europa medieval, onde reis e imperadores não tinham monopólio sobre os tribunais e o sistema de justiça, e onde era possível contestar as reivindicações do rei perante um juiz independente que não fosse funcionário do rei. Uma situação que, nos Estados modernos, seria impossível porque o monopólio dos governos se expandiu enormemente desde a Idade Média: o controle sobre a legislação e o judiciário é um dos elementos centrais do monopólio da tomada de decisão. Assim, se fosse possível pensar em um contrato com o rei e em um sistema de justiça onde o rei pudesse ser responsabilizado caso o violasse, isso se torna impossível após a posterior expansão dos monopólios estatais. De fato, após a assinatura da Magna Carta em 1215, os estados cresceram exponencialmente durante o período renascentista e a era moderna inicial. A Paz de Vestfália, que encerrou a Guerra dos Trinta Anos em 1648, marcou o início dos Estados modernos como monopolistas territoriais da tomada de decisões. O sistema medieval anterior apresentava centros de poder e jurisdição concorrentes e rivais, como senhores locais, reis, mosteiros, universidades, o Império Romano, o Papado. Nenhuma dessas instituições poderia reivindicar soberania exclusiva como os estados-nação posteriores (superiorem non recognoscens). Apesar do nascimento de um novo súdito político, o confronto entre os súditos e os reis continuou a ser realizado por meio de negociações contratuais durante as revoluções dos séculos XVII e XVIII. Documentos constitucionais como o Acordo dos Niveladores do Povo ou os cahiers de doléances franceses consideravam as lutas revolucionárias como um pedido para que um novo pacto fosse assinado entre o trono e os insurgentes como representantes do povo comum. O constitucionalismo moderno começa com a Declaração de Independência Americana, onde o elemento contratual muda de um pacto entre duas partes claramente identificadas – o rei de um lado e o povo do outro – para o estabelecimento de um contrato social entre todos os cidadãos. A missão do governo deveria ser a proteção dos direitos à vida, liberdade e propriedade. Se o governo cumprir sua parte do acordo, pode contar com o consentimento dos governados. Caso contrário, há direito e dever do povo de dissolver o governo e instituir uma nova forma de estado. A criação do novo governo, decorrente das lutas revolucionárias, dependerá, tanto na França quanto nos EUA, de uma carta fundadora que é a constituição moderna. Além de descrever a estrutura fundamental de um corpo político, as constituições normalmente contêm um catálogo ou enumeração de direitos fundamentais que o governo e o legislador devem respeitar.
Esse mito político traz mais problemas do que os que afirma resolver. Primeiramente, os reis absolutos europeus nunca afirmaram que seus poderes derivavam do consentimento dos governados. O poder era considerado dado por Deus e a maior parte do controle que os reis exerciam sobre seus territórios vinha de sua propriedade privada em vastas extensões de terra. Além disso, a Declaração de Independência assume como axioma que um governo é necessário. Os pais fundadores e os revolucionários franceses discutiram “como” a organização ótima do poder político deveria ser, mas nunca “se” o poder político deveria existir em primeiro lugar. Por fim, há uma contradição lógica inescapável entre a soberania como monopólio da tomada de decisão e a pretensão de que um documento como a constituição pode representar um baluarte contra os possíveis excessos do governo. A ideia de que a divisão de poderes entre os poderes legislativo, executivo e judiciário é a garantia da tomada de decisão independente é uma ilusão. Na verdade, o interesse próprio de todas as pessoas envolvidas nos diferentes ramos da atividade estatal garante que cooperem para engrandecer a organização para a qual trabalham. Além disso, apesar de todos os esforços para elaborar princípios e limites legais claros, o principal sistema para contornar constituições é representado pelos poderes de interpretação dos tribunais estatais. Até mesmo a redação mais cuidadosa pode ser deixada de lado pela interpretação judicial. Um exemplo óbvio é a doutrina hamiltoniana dos poderes implícitos, inventada apenas três anos após a ratificação da constituição americana. A constituição italiana sempre estabelece algum princípio geral que pretende proteger e defender direitos fundamentais, mas geralmente no mesmo artigo estabelece exceções e possibilidades para limitar os direitos concedidos ao legislador. Assim, a decisão típica do Tribunal Constitucional reconhece o direito do poder legislativo de equilibrar diferentes direitos fundamentais e de escolher discricionariamente quais devem ser privilegiados em dadas circunstâncias. Por exemplo, todas as decisões emitidas pelo Tribunal Constitucional italiano que trataram da brutal agressão contra direitos fundamentais de liberdade pessoal, liberdade de movimento e autodeterminação na saúde, perpetrada pelos poderes legislativo e executivo durante a crise da Covid, geralmente afirmavam o direito do legislador de restringir e excluir direitos fundamentais – que a constituição italiana define como invioláveis – em prol da saúde pública.
Portanto, as constituições são inúteis para prevenir abusos de poder porque governos e estados são invariavelmente abusivos. Na verdade, o principal violador dos direitos não pode ser seu protetor. O poder de tributar e, portanto, excluir a propriedade privada prova que o estado é uma instituição injusta. Nenhum documento pode impedir que os estados cometam crimes.
Seria necessária uma organização política que concedesse a possibilidade de escolher não participar e que se abstivesse de apropriação forçada da riqueza de outras pessoas por meio de impostos. Em outras palavras, a única possibilidade é o estabelecimento de uma comunidade política que renuncie ao monopólio da tomada de decisões.
Esta é a parte revolucionária e interessante da Constituição de Liberland. O Artigo I, Seção 2, ponto 1 desta constituição estabelece o ponto fundamental:
“Nem o estado nem qualquer instituição ou iniciativa do estado deverão financiar seus cargos por qualquer forma de roubo ou assalto. Portanto, não haverá impostos, tarifas, pedágios ou esquemas sociais obrigatórios em Liberland, nem tais taxas serão aplicadas sobre aqueles sob esta Constituição.”
Isso significa que a constituição de Liberland rompe com o conceito de soberania conforme afirmado no sistema vestfaliano. Liberland não se declara monopolista da tomada de decisão e evita violar a propriedade privada de seus cidadãos por meio de impostos. O financiamento de projetos públicos deve necessariamente acontecer de forma voluntária. Cargos públicos sem poder deixarão de ser atraentes para psicopatas cujo objetivo é impor sua vontade a outras pessoas. A ausência de poder e coerção poderia promover a criação de elites naturais que seriam escolhidas para cargos públicos por suas capacidades superiores. Portanto, na constituição de Liberland, soberania e estado têm um significado diferente do habitual. Soberania é a liberdade individual e a independência de seus cidadãos que reivindicam que sua propriedade privada não é agredida. A condição de estado é a afirmação do direito de instituir uma comunidade política que rompe com a tradição dos Estados-nação modernos e seu monopólio na tomada de decisões. Se Liberland conseguir vencer sua luta para ser reconhecido, será a primeira entidade política sem a relação de coerção que caracteriza todos os outros estados e, assim, poderá estabelecer um novo paradigma para uma saída dos males da política. A condição de estado significará a instituição de um espaço de liberdade onde a atividade humana possa florescer, onde a vida, a liberdade e a propriedade privada sejam protegidas e onde a busca pela felicidade se torne possível.















“Nenhuma dessas instituições poderia reivindicar soberania exclusiva como os estados-nação posteriores (superiorem non recognoscens).”
Na verdade, a Igreja Católica é a única instituição que detem o direito de soberania sobre os povos, sendo o estado submetido a Igreja. Por que uma religião pacifista – a grosso modo, fundada por um indivíduo que se alimentava de mel silvestre e gafanhotos e que seria facilmente confundido com um maconheiro de centro acadêmico e por outro mais pobre ainda, dois milênios após estes acontecimentos ainda é perseguida? Porque o cristianismo – aqui somente a Igreja Católica Apostólica Romana, concentra a autoridade voluntária, portanto legítima, da reivindicação qualquer instituição humana posterior, seja o estado, a violência ou os mercados livres.
Durante séculos uma gangue de ladrões e assassinos em larga escala se submeteu a uma instituição de monges e freiras? Não, tinha medo de um poder espiritual que fazia com que os 99% preferisse ser almoço de leões do que rejeitar o filho do carpinteiro.
Depois os alienados não sabem explicar por que um espaço geográfico específico, a Europa, nos legou a civilização.