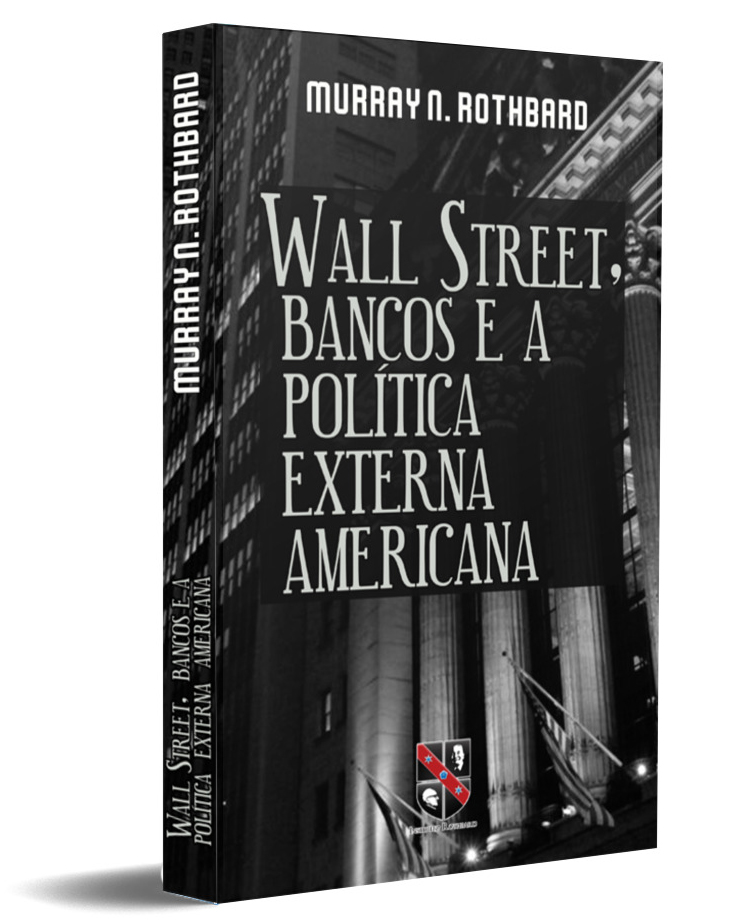As turbulências no mundo bancário, tanto norte-americano como europeu, demonstraram mais uma vez os privilégios de que desfrutam essas peculiares empresas privadas, se é que realmente merecem esse nome e não, a meu ver, o nome mais correto de concessões públicas ou de empresas públicas de gestão privada.
Por que socorrer os bancos?
Detectados problemas de solvência, liquidez ou descumprimento de prazo dessas entidades peculiares, os governos correram em seu socorro para garantir a solvência de seus respectivos sistemas financeiros. Não importa a forma escolhida para salvá-los, sejam programas de liquidez LTRO, compra “voluntária” por um banco ou um pool de bancos, ou fusões com outros mais solventes ou nacionalização total nos casos mais extremos. A verdade é que os Estados ou seus apêndices, os bancos centrais, têm se apressado em garantir sua solvência e a continuidade de seus contratos sem grandes prejuízos para seus depositantes ou para quem adquiriu algum de seus múltiplos tipos de títulos.
A grande questão que é porque se apressam a salvar este tipo de empresas, que em tese deveriam ser como as outras, enquanto abandonam à sua sorte empresas de outros setores, por vezes de dimensões muito consideráveis e muitas delas previamente prejudicadas devido a decisões políticas (estou pensando na indústria eletrointensiva). Elas são usadas quando é conveniente e depois abandonadas ou prejudicadas por regulações de todos os tipos.
Dê tempo aos investidores amigáveis
Em primeiro lugar, se houver problemas, os responsáveis econômicos dos diferentes executivos e seus delegados nos bancos centrais fazem todo o tipo de declarações a favor da solvência das entidades afetadas, mentindo deliberadamente em muitas ocasiões, já que muitos deles vão à falência em poucos dias e é impossível que eles não tivessem informações a esse respeito no momento que prestaram as declarações, com o intuito de manter a confiança dos depositantes e investidores.
É muito difícil dizer se isso é para tentar manter a confiança no sistema ou para dar aos investidores bem conectados tempo para desfazer investimentos. Pode ser por um motivo ou outro ou ambos ao mesmo tempo. Assim que se confirma a má situação do banco, começam as efetivas políticas de resgate. Essa situação ruim quase sempre é causada pela falta de solvência, embora eu saiba que há um debate sobre isso, pois é difícil ter problemas de solvência se nossos ativos vencidos continuarem retendo seu valor na opinião dos investidores.
Liquidez e solvência
Podemos não ter dinheiro líquido, mas se tivermos ativos solventes, não acho que haveria problema em ter financiamento com o respaldo deles, mesmo fora do sistema bancário. A falta de liquidez quase sempre se dá pela perda de valor dos ativos. Isso aconteceu com a crise imobiliária e pode acontecer agora com a dívida pública, que por si só não carece de solvência, mas apenas se esperarmos o vencimento, que às vezes pode demorar décadas para chegar, ambas severamente afetadas no preço e que serviram de colateral para muitos créditos, o que resultou em problemas para os bancos cumprirem suas obrigações.
Desencadeado o movimento da corrida bancária, manifestando primeiro os sintomas nas bolsas e depois massivamente nos depositantes, os dirigentes econômicos começaram a aplicar medidas, sobretudo para que o pânico não se alastrasse a outros bancos, menos insolventes que os falidos mas dados o atual sistema de reservas fracionárias também dependentes da confiança dos depositantes e investidores e, como bem sabemos, todos os bancos nesse sistema são potencialmente instáveis.
Fusões voluntárias?
Essas medidas dependem da habilidade e discrição dos reguladores, bem como de sua avaliação da situação econômica atual. Historicamente, um ou mais bancos foram encarregados de comprar o banco falido para restaurar a confiança. No caso hispânico das caixas econômicas, por serem entidades de economia social não cotadas, o que se tem recomendado é que se fundam com outra mais solvente, e isso foi feito na crise de 2007. Seria necessário investigar se os bancos ou as caixas econômicas mais solventes realizam a aquisição ou fusão voluntariamente ou o fazem mais ou menos “guiados” pelos governantes, seja através de decretos ou algum outro tipo de incentivo, seja fiscal ou regulatório.
Historicamente, as falências de pequenas e médias empresas têm sido resolvidas dessa forma. Os governantes, desta forma, gabavam-se de não terem desembolsado um único euro na operação. Esta medida foi também utilizada em momentos de estabilidade do sistema financeiro. Afetou apenas uma ou algumas entidades mal geridas.
Parte do aparato econômico do Estado
Quando a crise financeira se alastra e atinge diversas entidades, inclusive aquelas denominadas sistêmicas devido ao seu grande porte, as medidas mudam substancialmente e é utilizada artilharia pesada, como programas de liquidez como a LTRO europeia ou a compra pelo banco central de ativos depreciados de bancos, seja dívida pública ou corporativa ou, às vezes, até papel comercial difícil de se cobrar. Se tudo falhar, recorre-se à nacionalização do banco ou à criação de um banco mau; ou seja, a aquisição pelo Estado de ativos bancários danificados a um preço superior ao estabelecido pelo mercado para tentar sanear suas contas.
Isso é bem conhecido, embora deva ser lembrado de tempos em tempos, caso algum jovem leitor não tenha memória do que aconteceu nos anos posteriores a 2008. A questão é por que tanta diligência é demonstrada e tão rica variedade de medidas de intervenção é exibida com neste setor e não com outros, é o que os bancos têm em particular em relação a qualquer outro setor do mercado. Acredito que a resposta não pode ser outra senão que os bancos atuais não são um setor mercantil comum, mas fazem parte do aparato econômico dos Estados modernos, ou seja: são mercados, da mesma forma que, por exemplo, as ferrovias hispânicas, ou seja, mais um agente do poder político.
Rudolf Hilderding
O debate sobre o papel dos bancos no aparato do poder é uma constante desde o início do século XX, quando Rudolf Hilferding escreveu seu famoso Capital Financeiro, considerado por muitos uma das obras-primas do pensamento marxista; livro no qual se estabelece uma espécie de mitologia bancária que desde então permeou não apenas os marxistas, mas muitas outras ideologias e se tornou um dos muitos temas presentes no imaginário popular com os quais os seguidores de Marx “enriqueceram” a cultura econômica de nossas populações.
Além dos conhecidos lugares-comuns sobre classes sociais ou exploração, nosso autor considera o sistema bancário como um setor econômico diferente dos demais e caracterizado por um poder excessivo, não só sobre os demais setores econômicos, mas também sobre os próprios Estados. Estes seriam uma espécie de marionetes em suas mãos e não seriam, parafraseando Marx, mais que um comitê executivo dos grandes bancos. O mito difundido do Banco Morgan decidindo a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial é um deles, mito que continua a se repetir de outras formas quando há uma guerra ou intervenção militar em grande escala.
Rothbard e Hoppe
Talvez quem melhor a elaborou a partir de posições próximas ao marxismo seja Charles Wright Mills em seu magistral livro The Power Elite, que eu assinaria embaixo se não fosse pelo fato de que, a meu ver, a ordem da equação é invertida. É o Estado quem domina as finanças, porque são uma parte substancial dela, e não o contrário, algo difícil de se ver, já que ambos os setores estão tão entrelaçados entre si quanto aqueles bolos em que o chocolate está tão entrelaçado com o resto da massa que não podem ser claramente distinguidos.
Os austrolibertários não ficaram completamente alheios a essa ideia de sistema bancário e autores como Murray Rothbard ou Hans Hermann Hoppe dedicaram dois ensaios separados a esse problema. Claro que não estão entre as obras mais referenciadas deste tema, talvez pelo seu caráter que, além de ser antiestatista, é ferozmente antiimperialista.
Ambos se referem à relação simbiótica entre os bancos e o Estado no sentido de que se reforçam mutuamente e ambos estão interessados na sobrevivência dessa relação.
O sistema bancário, cúmplice do Estado
Os bancos financiam indiretamente os Estados e são cúmplices de suas políticas inflacionárias e em troca o Estado os privilegiam através da garantia de depósito (é a forma usada para justificar os resgates), da reserva fracionária (considerada crime para qualquer outro bem) ou lei de curso forçado (o dinheiro gerado por meio de notas bancárias é para fins legais equivalente ao criado pelos bancos centrais e serve para resgatar qualquer dívida, pública ou privada).
Em princípio, por uma relação do Estado como monopolista do uso da força e entidade privilegiada, mas exterior à sua estrutura. A questão é, portanto, saber se podemos incluir o sistema bancário atual (repito o que é atual, porque o sistema bancário propriamente dito é um negócio honesto como outro qualquer) dentro do próprio Estado e não fora dele.
Entendo que hoje podemos considerar os bancos comerciais como agentes do Estado. Formalmente, sua propriedade é privada e suas ações podem ser compradas e vendidas nas bolsas de valores. Mas seu comportamento e seus privilégios não são os de nenhuma entidade privada e, portanto, devem ser analisados dentro da teoria do Estado e não no âmbito da teoria monetária ou bancária.
Acho que os atuais líderes políticos se importam muito pouco se a doutrina do dinheiro sólido ou o coeficiente de 100% seja mais conveniente. Eles terão o banco à sua disposição para financiar suas despesas, estimular a economia em períodos eleitorais ou dar uma imagem de onipotência em caso de pandemias ou catástrofes e as consequências na forma de inflação ou depressões serão atribuídas a Putin ou a ruptura da cadeia de suprimentos. Mas no próximo artigo vou analisar porque entendo que seja assim.
Artigo original aqui