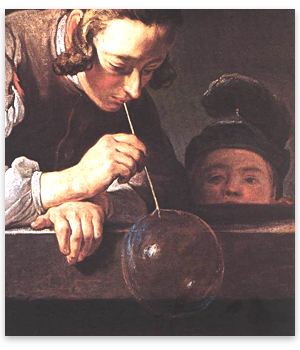 Vivemos em um mundo de eufemismos. Coveiros se tornaram “agentes funerários”, assessores de imprensa são chamados de “conselheiros de relações públicas” e os faxineiros agora são todos “zeladores”. Diante da riqueza multifária da vida, fatos até então incontroversos acabaram ganhando uma roupagem obscura.
Vivemos em um mundo de eufemismos. Coveiros se tornaram “agentes funerários”, assessores de imprensa são chamados de “conselheiros de relações públicas” e os faxineiros agora são todos “zeladores”. Diante da riqueza multifária da vida, fatos até então incontroversos acabaram ganhando uma roupagem obscura.
Isto não tem sido menos verdadeiro em relação à economia. Nos velhos tempos, costumávamos sofrer crises econômicas quase que periódicas: o começo repentino era chamado de “pânico”, e o período prolongado após esse pânico era chamado de “depressão”.
A mais famosa depressão dos tempos modernos, claro, foi aquela que começou com um típico pânico financeiro em 1929 e que durou até o advento da Segunda Guerra Mundial. Após o desastre de 1929, economistas e políticos decidiram que isto nunca mais deveria acontecer. E a maneira mais fácil de obter sucesso nesta empreitada foi simplesmente abolindo a existência da palavra “depressão”. Daquele ponto em diante, não mais iria haver uma depressão. Assim, quando uma nova e forte depressão surgiu em 1937-38, os economistas simplesmente se recusaram a usar esse nome pavoroso, o que os levou a criar um termo novo e muito mais suave: “recessão”. Desde então, passamos por várias recessões, mas por absolutamente nenhuma depressão.
Porém, rapidamente a palavra “recessão” também se tornou áspera para as delicadas sensibilidades do público. Assim, parece que a última recessão foi em 1957-58. Desde então, só ocorreram “declínios” ou, ainda melhor, “desacelerações” ou “movimentos laterais”. Portanto, anime-se: daqui pra frente, depressões e até mesmo recessões estão banidas da semântica econômica; de agora em diante, o pior que pode acontecer é uma “desaceleração”. Tais são as maravilhas da “Nova Economia”.
Nas últimas décadas, os economistas adotaram a idéia de ciclos econômicos que foi criada por John Maynard Keynes, que criou o “keynesianismo” ou a “Nova Economia” em seu livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicado em 1936. Sob seus diagramas, cálculos e jargões rudimentares, a atitude dos keynesianos perante as “expansões” e “depressões” econômicas é simplista, para não dizer ingênua.
Se há inflação, então a causa é supostamente o “gasto excessivo” por parte do público; a suposta cura deve ser a intervenção do estado, o auto-proclamado estabilizador e regulador da economia, que deve forçar as pessoas a gastar menos, “enxugando o excesso de poder de compra” através de um aumento nos impostos. Se há uma recessão, por outro lado, isto se deve ao gasto privado insuficiente, e a cura nesse caso é o governo aumentar seus próprios gastos, preferivelmente através de déficits orçamentários, contribuindo dessa forma para incrementar o fluxo do gasto agregado da economia.
A idéia de que o aumento dos gastos governamentais – ou o “crédito fácil” – é bom para os negócios, ao passo que cortes no orçamento – ou o “crédito apertado” – são ruins, permeia até mesmo os jornais e revistas mais conservadores. Estes periódicos também consideram ponto pacífico que é tarefa obrigatória do governo federal guiar todo o sistema econômico pelo estreito caminho entre o abismo da depressão, de um lado, e o da inflação, de outro, uma vez que a economia de livre mercado supostamente está condenada a sucumbir a um destes males.
A economia é tratada como um paciente potencialmente curável, mas sempre problemático e teimoso, com uma tendência contínua a gerar ou mais inflação ou mais desemprego. A função do governo é ser o médico sábio e experiente, sempre vigilante, sempre fazendo remendos para manter o paciente – a economia – vivo e ativo. Em qualquer situação, a economia deve sempre ser vista como um paciente instável, e o governo, como um médico que tudo sabe.
Não faz muito tempo, este tipo de atitude política era chamada de “socialismo”; mas vivemos em um mundo de eufemismos, e agora podemos classificar tudo isso com rótulos menos ásperos, como “ajuste fino” ou “livre iniciativa socialmente controlada”. Vivendo e aprendendo.
Quais, então, são as causas das depressões periódicas? Será que devemos sempre permanecer céticos em relação às causas das expansões e contrações econômicas? É realmente verdade que os ciclos econômicos estão profundamente enraizados dentro da economia de livre mercado, e que, portanto, alguma forma de planejamento governamental é necessária se quisermos manter a economia dentro de algum tipo de limite estável? As expansões e contrações simplesmente acontecem ou uma fase do ciclo flui logicamente da outra?
A atual postura em relação aos ciclos econômicos se origina, na realidade, de Karl Marx. Marx percebeu que, antes da Revolução Industrial, aproximadamente no final do século XVIII, expansões e depressões não eram algo costumeiro na economia. Poderia haver uma crise econômica repentina se algum rei declarasse guerra ou confiscasse a propriedade dos seus súditos; mas não havia sinal do moderno e peculiar fenômeno de oscilações regulares na economia – as expansões e contrações. Como esses ciclos surgiram praticamente em simultâneo com a indústria moderna, Marx concluiu que os ciclos econômicos eram uma característica inerente à economia de mercado capitalista. Todas as várias escolas de pensamento econômico, independentemente de suas diferenças e das diversas causas que atribuem aos ciclos, concordam em um ponto vital: esses ciclos econômicos se originam em algum lugar dentro da economia de livre mercado. A economia de mercado é a culpada. Karl Marx acreditava que as depressões periódicas iriam se agravar cada vez mais, até que as massas se mobilizariam pela revolução e destruiriam o sistema, ao passo que os economistas modernos acreditam que o governo pode com sucesso estabilizar as depressões e os ciclos. Mas todas as partes concordam que a culpa está enraizada na economia de mercado – e que se há algo que pode salvar o sistema, esse algo seria uma maciça intervenção governamental.
Há, contudo, alguns problemas críticos na suposição de que a economia de mercado é a culpada. Pois a “teoria geral da economia” nos ensina que a oferta e a demanda sempre tendem a estar em equilíbrio no mercado e que, portanto, tanto os preços dos produtos quanto os fatores que contribuem para a produção estão sempre tendendo a um ponto de equilíbrio. Ainda que as informações e os dados estejam em constante mudança, o que impede que este equilíbrio seja alcançado, não há nada na teoria geral do sistema de mercado que explique as fases de expansão e contração – que são regulares e recorrentes – dos ciclos econômicos.
Os economistas modernos “solucionaram” facilmente este problema: eles separaram, em compartimentos herméticos, de um lado, a teoria geral dos preços e do mercado, e de outro, a teoria dos ciclos econômicos, de modo que ambas as teorias nunca se encontram e nem muito menos se integram uma à outra. Mas os economistas se esqueceram, infelizmente, de que só existe uma economia e, consequentemente, uma única teoria econômica integrada. Nem a vida econômica, nem a estrutura da teoria podem ou devem estar em compartimentos herméticos; nosso conhecimento da economia é um todo integrado; caso contrário, ele não é nada.
Ainda assim, muitos economistas estão contentes em aplicar teorias totalmente separadas – e, na realidade, mutuamente excludentes – para a análise geral dos preços e dos ciclos econômicos. Eles não podem ser cientistas econômicos genuínos se se satisfazem em continuar operando deste modo primitivo.
Mas há problemas ainda mais graves com esta abordagem tão em voga. Por não se importarem em conciliar a teoria dos ciclos econômicos com a teoria geral dos preços, os economistas também não enxergam um problema particularmente crítico: o colapso anormal da atividade empresarial nos períodos de crise econômica e depressão. Na economia de mercado, uma das funções vitais do empresário é ser um “empreendedor”, um homem que investe em métodos produtivos, que compra equipamentos e emprega mão-de-obra para produzir algo que ele não sabe ao certo se irá lhe trazer qualquer retorno.
Em resumo, a função empreendedorial é a função de prever o futuro incerto. Antes de embarcar em qualquer investimento, o empreendedor deve estimar os custos presentes e futuros, bem como a renda futura; e dessa forma estimar se haverá, e quanto haverá, de lucro com este investimento. Se ele previr bem e significativamente melhor que seus concorrentes, ele terá lucros com seu investimento. Quanto melhor a sua previsão, maiores os lucros que ele irá obter. Se, por outro lado, ele for um prognosticador ruim e superestimar a demanda pelo seu produto, ele irá sofrer perdas e será rapidamente forçado a sair de seu ramo.
A economia de mercado, portanto, é um sistema de perdas e ganhos, no qual a perspicácia e a habilidade dos empreendedores é medida pelos lucros e prejuízos que acumulam. A economia de mercado, além do mais, contém um mecanismo intrínseco, um tipo de seleção natural que assegura a sobrevivência e a prosperidade dos melhores prognosticadores e, consequentemente, a extinção dos piores. Pois quanto maiores os lucros coletados pelos bons prognosticadores, maiores serão suas responsabilidades gerenciais, e mais recursos eles terão disponíveis para investir no sistema produtivo. Por outro lado, alguns anos de prejuízos irão empurrar os maus prognosticadores para fora do mercado, colocando-os na categoria de empregados assalariados.
Portanto, se a economia de mercado possui um mecanismo intrínseco de seleção natural para os bons empreendedores, isto significa que, geralmente, não esperaríamos ver muitas empresas tendo prejuízos. E, de fato, se observarmos a economia em períodos normais, iremos perceber que prejuízos não são a norma, pois não são algo difuso; no máximo, apenas um ou outro setor passa por dificuldades. Sendo assim, o fato excêntrico que precisa de uma explicação é: como é possível que, recorrentemente, nos períodos em que se inicia uma recessão e, especialmente, em depressões agudas, o mundo empresarial repentinamente passe a vivenciar um aglomerado de prejuízos severos? Chega um momento em que as empresas, antes muito astutas em suas capacidades empresariais de fazer lucros e evitar prejuízos, repentina e espantosamente se veem, quase todas elas, sofrendo prejuízos severos e incalculáveis. Como pode? Eis aí um fato significativo que toda teoria sobre depressões tem de explicar. Explicações do tipo “problemas de subconsumo” – uma queda nos gastos totais dos consumidores – não são suficientes, pois o que precisa ser explicado é por que os empreendedores, até então capazes de prever todos os tipos de mudanças e ocorrências econômicas, repentinamente descobrem, de forma catastrófica, que foram incapazes de prever essa suposta queda na demanda dos consumidores. Qual o motivo dessa repentina incompetência em prognosticar o futuro?
Uma teoria adequada sobre depressões deve, portanto, explicar essa tendência que a economia tem de incorrer em expansões e contrações sucessivas, sem demonstrar indícios de que vá se mover suave e progressivamente até alcançar uma situação de equilíbrio. Em particular, uma teoria sobre depressões deve levar em conta o imenso conjunto de erros que surge rápida e repentinamente em momentos de crise econômica, e persiste por todo o período da depressão até o início da recuperação.
E há um terceiro fato universal que uma teoria dos ciclos deve explicar. Invariavelmente, as expansões e contrações são muito mais severas e intensas nas “indústrias de bens de capital” – indústrias que constroem máquinas e equipamentos, produzem matérias primas industriais e/ou constroem plantas industriais – do que nas indústrias que fazem bens de consumo. Eis aqui outro fato dos ciclos econômicos que tem de ser explicado – e que obviamente não pode ser explicado por teorias populares que pregam a doutrina do subconsumo: que os consumidores não estão gastando o bastante em bens de consumo. Pois se o gasto insuficiente é o culpado, como explicar então que as vendas no varejo são as últimas a serem afetadas pela crise? E por que o setor varejista é também o que menos sofre? E, por último, por que a depressão é muito mais severa com as indústrias de máquinas, ferramentas, equipamentos, construção civil e matérias primas? Inversamente, são estas mesmas indústrias que decolam durante a fase da expansão inflacionária dos ciclos econômicos, e não aquelas empresas que estão servindo diretamente os consumidores. Uma teoria adequada sobre os ciclos econômicos deve, portanto, explicar o porquê dessa intensidade muito maior da expansão e contração nas indústrias de bens de capital.
Felizmente, uma teoria correta sobre depressões e ciclos econômicos de fato existe, ainda que ela seja universalmente negligenciada pelas teorias econômicas atuais. Ela também possui uma longa tradição no pensamento econômico. Esta teoria começou no século XVIII com o filósofo e economista escocês David Hume, e com o eminente economista clássico inglês do início do século XIX, David Ricardo. Essencialmente, estes teóricos viram que outra instituição crucial havia se desenvolvido em meados do século XVIII, junto com o sistema industrial. Trata-se do sistema bancário, com a sua capacidade de expandir o crédito e a oferta monetária (primeiro na forma de papel-moeda, ou cédulas, e depois na forma de depósitos em conta corrente, que são redimíveis em dinheiro nos bancos). Esses economistas notaram que é exatamente na maneira como operam esses bancos comerciais que está a explicação para os recorrentes e misteriosos ciclos de expansão e contração, a formação de bolhas e seus subseqüentes estouros, que tanto intrigam os observadores desde meados do século XVIII.
A análise ricardiana dos ciclos econômicos foi feita da seguinte maneira: o dinheiro surgiu naturalmente no livre mercado mundial na forma de commodities úteis, geralmente prata e ouro. Se o dinheiro fosse confinado apenas a essas commodities, a economia iria funcionar no agregado assim como funciona em mercados específicos: haveria um ajuste suave entre oferta e demanda, fazendo portanto com que não houvesse ciclos econômicos de expansão e contração. Mas a injeção de crédito bancário adiciona um elemento crucial e disruptivo. Quando os bancos expandem o crédito, isso significa que eles estão expandindo a oferta monetária na forma de depósitos que teoricamente são redimíveis em espécie, mas que na prática não são. Por exemplo, na época em que o ouro era dinheiro, se um banco possuísse 1000 onças de ouro em seus cofres, e emitisse instantaneamente vários recibos de depósito no valor total de 2500 onças de ouro, estaria claro que o banco emitiu 1500 onças além do que poderia redimir sob demanda.
Mas enquanto não houver uma “corrida” aos bancos em que todos convertem em dinheiro seus recibos de depósito, estes continuarão funcionando no mercado como o equivalente ao ouro. Assim, o banco foi capaz de expandir a oferta monetária do país em 1500 onças.
Os bancos, então, começam a expandir alegremente o crédito, pois quanto mais eles o expandem, maiores serão seus lucros. Isto resulta na expansão da oferta monetária dentro de um país. Pensemos, por exemplo, na Inglaterra. Quando a oferta de dinheiro na Inglaterra aumenta, a renda e os gastos dos ingleses aumentam, e esse aumento da quantidade de dinheiro provoca uma elevação nos preços dos bens. O resultado é a inflação de preços e uma expansão econômica dentro país. Mas esta expansão econômica inflacionária, enquanto ela prossegue seu alegre caminho, planta as sementes de sua própria morte. Pois quando a oferta monetária e a renda aumentam, os ingleses passam a comprar mais bens do exterior. Da mesma forma, enquanto os preços na Inglaterra aumentam, seus produtos perdem competitividade em relação aos produtos de outros países que não inflacionaram sua oferta monetária, ou que pelo menos a inflacionaram em uma escala menor. Os ingleses começam a comprar menos produtos de suas indústrias nacionais para comprar mais bens importados, ao passo que os estrangeiros começam a comprar menos da Inglaterra e mais em seus próprios países; o resultado é um déficit no balanço de pagamentos da Inglaterra, com as exportações caindo drasticamente em relação às importações. Mas se as importações excedem as exportações, isto significa que o dinheiro saiu da Inglaterra para outros países. E que dinheiro é esse? Certamente, não são cédulas inglesas ou recibos de depósitos, pois os franceses, os alemães ou os italianos possuem pouco ou nenhum interesse em manter seus fundos guardados em bancos ingleses.
Estes estrangeiros irão, portanto, levar seus recibos de depósito aos bancos ingleses para que estes possam redimi-los em ouro – e o ouro, nesse cenário, seria o tipo de moeda que iria fluir persistentemente para fora do país enquanto a inflação inglesa perdurasse. Mas isto significa que o crédito dos bancos ingleses irá se expandir, cada vez mais, sobre uma pirâmide cuja base de ouro está diminuindo nos cofres dos bancos ingleses. Enquanto a expansão econômica prosseguir, nosso banco hipotético continuará aumentando sua emissão de recibos de depósitos, digamos, de 2500 para 4000 onças de ouro, enquanto suas reservas em ouro estariam encolhendo para, digamos, 800 onças. À medida que esse processo for se intensificando, os bancos irão eventualmente se apavorar. Afinal, os bancos têm de redimir suas obrigações em dinheiro, e seu dinheiro está se esgotando rapidamente ao mesmo tempo em que suas obrigações vão se acumulando. Consequentemente, chegará um momento em que os bancos irão perder a tranquilidade, encerrar sua expansão creditícia e, para evitar que quebrem, quitar seus empréstimos pendentes. Geralmente, este recuo é precipitado por corridas bancárias desencadeadas pelo público temeroso da falência dos bancos, uma vez que estes estão em condições extremamente instáveis.
A contração bancária reverte o cenário econômico; a contração e a depressão são as consequências inevitáveis da expansão inflacionária. Os bancos retraem seus empréstimos e as empresas sofrem em decorrência dessa pressão para o pagamento das dívidas. O crédito se contrai e a queda na oferta monetária, por sua vez, leva a uma queda generalizada nos preços dos produtos e serviços ingleses. Quando a oferta monetária e a renda caírem, e os preços entrarem em colapso, os produtos ingleses passarão a ficar mais atrativos em relação aos produtos estrangeiros, e o balanço de pagamentos passa a ficar positivo, com as exportações excedendo as importações. À medida que o ouro voltar a fluir para o país, e as contas correntes dos bancos forem ganhando um lastro crescente de reservas de ouro, as condições dos bancos se tornarão mais sólidas.
Este é, portanto, o significado da fase de depressão dos ciclos econômicos. Observe que essa fase surgeinevitavelmente da precedente expansão econômica artificial. É a inflação anterior que torna a depressão necessária. Podemos ver, por exemplo, que a depressão é o processo pelo qual a economia de mercado se reajusta, livrando-se dos excessos e distorções causados pela expansão inflacionária e restabelecendo uma sólida condição econômica. A depressão é a reação desagradável, porém necessária, às distorções e excessos causados pela expansão precedente.
Por que, então, um novo ciclo se reinicia? Por que os ciclos econômicos tendem a ser recorrentes e contínuos? Porque após os bancos se recuperarem, e estarem em uma condição mais sólida, eles irão inevitavelmente reiniciar sua atividade natural: a expansão creditícia. Com isso, a próxima expansão econômica terá início, plantando as sementes da próxima e inevitável recessão.
Mas se a atividade bancária é a causa dos ciclos econômicos, e se os bancos são parte da economia de mercado, não poderíamos dizer que o livre mercado ainda é o responsável pelos ciclos econômicos, nem que seja apenas o segmento bancário desse livre mercado? A resposta é NÃO, pois os bancos não seriam capazes de expandir o crédito conjuntamente sem a intervenção e o estímulo do governo. Se os bancos fossem realmente um setor concorrencial, qualquer expansão de crédito feita por um banco iria levar a um acúmulo de seus débitos na conta de seus bancos concorrentes, e estes iriam rapidamente exigir a remição em dinheiro do banco que fornece o crédito. (Pense em quando você deposita um cheque do banco A na conta que você tem no banco B. O banco B, caso fosse de fato um concorrente do banco A, iria imediatamente pedir a compensação deste cheque ao banco A). Ou seja, os concorrentes desse banco que está emitindo crédito iriam exigir o pagamento da dívida em ouro ou dinheiro, da mesma forma que os estrangeiros fazem, exceto que o processo seria muito mais rápido e iria inibir, logo na sua origem, qualquer inflação incipiente. Sendo assim, torna-se claro que os bancos só podem expandir o crédito confortavelmente em uníssono quando existe um Banco Central, que é essencialmente um banco do governo, que goza um monopólio dado pelo governo e que possui uma posição privilegiada imposta pelo governo sobre todo o sistema bancário. Somente quando um banco central é instituído é que os demais bancos se tornam aptos a expandir o crédito indefinidamente. E foi somente após a existência de bancos centrais que as economias se tornaram familiarizadas com fenômeno dos ciclos econômicos.
O banco central adquire controle sobre todo o sistema bancário por medidas governamentais do tipo: fazer com que sua moeda seja de curso forçado, de modo que ela seja forçosamente aceita no pagamento de todas as dívidas, bem como na coleta de impostos; garantir ao banco central o monopólio da emissão de cédulas; ou obrigando os bancos a utilizar o banco central como o depositário de suas reservas em dinheiro (os compulsórios). Não que os bancos reclamem dessa intervenção; pois é justamente o estabelecimento de um banco central que torna possível a expansão creditícia de longo prazo dos bancos, já que a emissão de cédulas do banco central (que são depositadas nas contas que os bancos têm junto ao banco central, os depósitos compulsórios) fornece reservas extras para todo o sistema bancário, o que permite que todos os bancos comerciais expandam o crédito conjuntamente. A função prática de um banco central é cartelizar confortavelmente todo o sistema bancário, permitindo aos bancos expandirem conjuntamente o crédito; e os bancos desta forma dispõem de uma base maior de dinheiro sobre a qual expandir.
Agora sim conseguimos ver, finalmente, que o ciclo econômico é causado não por alguma falha misteriosa da economia de livre mercado, mas justamente o contrário: pelas sistemáticas intervenções governamentais no processo de mercado. A intervenção governamental provoca a expansão creditícia e a inflação, e, quando essa inflação é interrompida, o subsequente ajuste recessivo entra em cena.
A teoria ricardiana dos ciclos econômicos entendeu as duas coisas essenciais para uma teoria correta sobre os ciclos: a natureza recorrente dos ciclos e a depressão como um ajuste necessário à intervenção no mercado, e não como um produto natural deste. Porém, dois problemas ainda continuavam sem explicação: por que os repentinos erros conjuntos – isto é, o repentino insucesso da atividade empresarial – e por que as flutuações no setor de bens de capital eram muito maiores do que nos setores de bens de consumo? A teoria ricardiana explicava apenas movimentos no nível dos preços, na economia em geral; não havia nem resquício de explicação para as reações amplamente distintas entre as indústrias de bens de capital e de bens de consumo.
A mais desenvolvida e correta teoria sobre ciclos econômicos foi finalmente elaborada pelo economista austríaco Ludwig von Mises, quando ele era professor na Universidade de Viena. Mises desenvolveu sua solução para o problema vital dos ciclos econômicos em sua monumental obra Theory of Money and Credit, publicada em 1912 e, até hoje, o melhor livro sobre a teoria do dinheiro e do sistema bancário. Mises desenvolveu sua teoria dos ciclos durante os anos 1920, e ela foi levada para os países anglófonos pelo seu principal seguidor, Friedrich A. von Hayek, que deixou Viena para lecionar na London School of Economics no início dos anos 1930, e que publicou, em alemão e inglês, dois livros que aplicavam e desenvolviam a teoria dos ciclos de Mises: Monetary Theory and the Trade Cycle e Prices and Production. Como Mises e Hayek eram austríacos, e estavam em linha com a tradição dos grandes economistas austríacos do século XIX, essa teoria se tornou conhecida na literatura econômica como a Teoria “Austríaca” dos Ciclos Econômicos.
Elaborando a partir dos ricardianos, da teoria geral austríaca, e do seu próprio gênio criativo, Mises desenvolveu a seguinte teoria dos ciclos econômicos:
Sem a expansão de crédito bancário, oferta e demanda tendem a se equilibrar através do sistema de preços livres, e não haveria como ocorrer expansões econômicas repentinas seguidas de recessões agudas. Mas então o governo, através do seu banco central, estimula a expansão do crédito bancário comprando ativos em posse dos bancos (por exemplo, títulos da dívida), o que aumenta as reservas dos bancos comerciais (entenda esse processo aqui). Os bancos consequentemente irão expandir o crédito, aumentando a oferta monetária do país na forma de um aumento nos depósitos sacáveis por meio de cheques. Como os ricardianos perceberam, essa expansão da oferta monetária aumenta os preços dos bens e serviços. Porém, como Mises mostrou, esse mecanismo gera algo ainda mais sinistro. A expansão do crédito bancário, ao ser despejada no mercado de crédito, derruba artificialmente a taxa de juros da economia para baixo do seu nível de livre mercado.
Em um mercado livre e desimpedido, a taxa de juros é determinada puramente pelas “preferências temporais” de todos os indivíduos que compõem a economia de mercado. A essência de um contrato de empréstimo é que um “bem presente” (dinheiro que pode ser usado no momento) está sendo trocado por um “bem futuro” (um título de dívida que só poderá ser utilizado em um dado momento futuro). Como as pessoas sempre preferem ter o dinheiro agora ao invés da perspectiva de receber a mesma quantia em algum momento futuro, o bem presente sempre exige um prêmio no mercado em relação ao bem futuro. Este prêmio é a taxa de juros, e seu valor irá variar de acordo com o grau em que as pessoas preferem o presente em relação ao futuro, ou seja, o grau de suas preferências temporais.
As preferências temporais também determinam o quanto as pessoas irão poupar e investir em relação ao quanto elas irão consumir. Se as preferências temporais das pessoas caírem – isto é, se o nível de preferência pelo presente em relação ao futuro cair – então as pessoas tenderão a consumir menos e poupar e investir mais (elas ficam mais orientadas para o futuro); ao mesmo tempo, e pela mesma razão, a taxa de juros, que é a taxa do desconto temporal, também irá cair. O crescimento econômico irá ocorrer em grande parte como resultado da queda nas taxas de preferência temporal, o que irá levar ao aumento na proporção de poupança e investimento em relação ao consumo, bem como a uma queda na taxa de juros.
Mas o que acontece quando as taxas de juros caem, não por causa de uma diminuição das preferências temporais e de um aumento da poupança, mas por causa de uma interferência governamental que promove a expansão do crédito bancário? Em outras palavras, o que acontece se a taxa de juros cair artificialmente, devido à intervenção governamental (ao invés cair naturalmente, como resultado de mudanças nas valorações e preferências do público consumidor?)
O que acontece é uma enorme encrenca. Os empresários, percebendo a queda na taxa de juros, reagem exatamente como deveriam agir diante de tais sinais do mercado: investem mais em bens de capital. Investimentos, particularmente em projetos longos e demorados, que antes pareciam financeiramente inviáveis, agora parecem lucrativos por causa da queda dos juros cobrados. Ou seja, os empresários reagem como reagiriam se a poupança tivesse aumentado genuinamente: eles expandem seus investimentos em equipamentos duráveis, em bens de capital, em matérias primas industriais e em construção civil, em detrimento da produção direta de bens de consumo.
As empresas, portanto, irão alegremente tomar emprestado esse dinheiro recém-criado pelo sistema bancário a taxas mais baixas; elas utilizarão esse dinheiro para investir em bens de capital e, eventualmente, para pagar os agora mais caros alugueis de terras e equipamentos, bem como salários mais altos aos trabalhadores das indústrias de bens de capital. O aumento na demanda pressiona os custos trabalhistas, mas as empresas acreditam que podem pagar estes altos custos porque foram enganadas pela intervenção do governo e dos bancos no mercado de crédito, com a consequente adulteração (para baixo) das taxas de juros do mercado, que são o mais importante sinal de preços de uma economia.
O problema começa assim que os trabalhadores e arrendatários – principalmente os primeiros, já que a maior parte da renda das empresas é gasta com salários – começam a gastar esse novo dinheiro que foi posto em circulação e que eles receberam na forma de salários mais altos. Como as preferências temporais das pessoas não diminuíram (o que houve foi apenas adulteração artificial dos juros), o público não poupou mais do que já vinha poupando. Assim, os trabalhadores começarão a gastar a maior parte da sua nova renda, em parte para restabelecer a antiga proporção entre consumo e poupança. Isto significa que eles irão redirecionar os gastos novamente para as indústrias de bens de consumo, sendo que eles não poupam e investem o suficiente para comprar as máquinas recém-produzidas, os equipamentos, as matérias primas industriais, etc. Isto irá gerar uma depressão repentina, aguda e contínua nas indústrias de bens de capital.
Tão logo os consumidores restabelecem suas proporções desejáveis entre consumo e poupança, torna-se claro que as empresas investiram excessivamente em bens de capital e insuficientemente em bens de consumo. As empresas foram seduzidas pela adulteração e diminuição artificial das taxas de juros feita pelo governo, e atuaram como se houvesse mais popança disponível do que realmente havia. À medida que esse novo dinheiro vai perpassando a economia e os consumidores vão restabelecendo suas antigas proporções entre consumo e poupança, torna-se claro que não havia poupança suficiente para comprar todos os bens de capital, e que as empresas investiram erroneamente toda a limitada poupança disponível. As empresas “sobreinvestiram” (investiram em excesso) em bens de capital e “subinvestiram” (investiram pouco) em bens de consumo.
Dessa forma, a expansão inflacionária leva a distorções no sistema de preços e na produção. Durante todo o período expansionista, os preços da mão-de-obra e das matérias primas nas indústrias de bens de capital foram pressionados a um nível tão alto que, após os consumidores reafirmarem suas antigas preferências entre consumo e poupança, esses preços se tornam incapazes de prover lucro. A “depressão” torna-se então a fase dolorosa, porém saudável e necessária, em que a economia de mercado descarta e liquida os investimentos insolventes realizados durante a expansão inflacionária, e restabelece a proporção entre consumo e poupança genuinamente desejada pelos consumidores. Como os preços dos fatores de produção foram estimulados excessivamente durante a expansão inflacionária, isso significa que os preços dos bens e da mão-de-obra nessas indústrias de bens de capital terão de cair até que as corretas proporções de mercado sejam retomadas.
Dado que os trabalhadores recebem rapidamente, na forma de salários mais altos, esse dinheiro recém injetado na economia, por que então essas expansões econômicas artificiais podem durar anos sem que seus investimentos dispendiosos e insolventes sejam revelados? Por que todos esses erros empresariais oriundos da adulteração dos sinais de mercado demoram a se tornar evidentes? A resposta é que o crescimento econômico teria uma duração muito curta se a expansão creditícia bancária e a subsequente redução das taxas de juros para níveis abaixo dos de mercado acontecessem de uma só vez.
Mas a realidade é que a expansão do crédito não acontece de uma só vez; ela se dá continuamente, nunca permitindo que os consumidores tenham a chance de restabelecer suas preferências entre consumo e poupança, nunca permitindo que o aumento dos custos nas indústrias de bens de capital alcance o aumento dos preços. Como um cavalo continuamente dopado, a expansão econômica artificial é mantida sempre à frente de seu inexorável desfecho por meio de doses repetidas de seu estimulante: o crédito bancário. Somente quando a expansão creditícia bancária chegar ao seu fim – seja porque os bancos estão entrando em condições instáveis, ou porque o público começa a rejeitar a inflação contínua – é que as conseqüências inevitáveis começarão a se fazer sentir. Tão logo a expansão creditícia termine, as despesas terão de ser pagas, e os inevitáveis reajustes irão liquidar os sobreinvestimentos insolventes realizados durante a expansão. Isso fará com que seja restabelecida uma maior ênfase na produção de bens de consumo.
Desta forma, a teoria dos ciclos econômicos de Mises explica todos os enigmas: a natureza recorrente do ciclo, o maciço conjunto de erros empresariais, a maior intensidade com que a expansão e a depressão se manifestam sobre sentida as indústrias de bens de capital.
Mises identifica, com grande precisão, que a causadora dos ciclos é a expansão creditícia bancária induzida pela intervenção do governo e de seu banco central. Assim sendo, segundo Mises, o que o governo deveria fazer, por exemplo, quando a depressão se instala? Qual o papel do governo na cura de uma depressão? Em primeiro lugar, o governo deve parar a inflação monetária o mais rápido possível. É verdade que isso irá, inevitavelmente, interromper de forma abrupta a expansão econômica artificial, dando início a uma inevitável recessão ou depressão. Porém, quanto mais tempo o governo esperar para fazer isso, piores serão os reajustes necessários. Quanto mais rápido o reajuste recessivo vier, mais rápido irá terminar. Isto significa, também, que o governo jamais deve tentar estimular empresas insolventes; ele jamais deve socorrer financeiramente ou mesmo dar empréstimos a empresas que estejam com problemas. Fazer isso simplesmente irá prolongar a agonia e transformar uma profunda, porém rápida depressão, em uma duradoura e crônica doença.
Da mesma forma, o governo jamais deve tentar estimular salários ou preços dos bens de capital; fazer isso irá apenas prolongar e atrasar indefinidamente a conclusão do processo de ajuste; a intervenção do governo irá dar sobrevida à depressão e causará desemprego em massa naquelas indústrias de bens de capital que são as mais vitais. O governo também não deve tentar inflacionar novamente para sair da depressão, pois, mesmo se essa reflação fosse bem sucedida, isso iria apenas causar problemas posteriores. O governo não deve tentar estimular o consumo, tampouco deve aumentar seus próprios gastos, pois isso iria aumentar a proporção consumo/poupança da sociedade. Com efeito, cortar o orçamento do governo iria melhorar essa proporção (diminuindo o consumo e aumentando a poupança). Em uma depressão, a economia precisa de mais poupança – e não de mais gastos com consumo – para que possa validar alguns dos investimentos errôneos que foram efetuados durante a fase de expansão da economia.
Assim, de acordo com a análise misesiana, o que o governo deveria fazer durante uma depressão? Absolutamente nada. Do ponto de vista da saúde econômica, e considerando-se que a intenção seja acabar com a depressão o mais rápido possível, o governo deveria seguir uma política estritamente laissez-faire, sem qualquer intervenção. Qualquer coisa que o governo faça irá obstruir e atrasar o processo de ajuste do mercado; quanto menos ele fizer, mais rapidamente o processo de ajuste de mercado fará seu trabalho, e uma sólida e sustentável recuperação econômica será a conseqüência.
A prescrição misesiana é, portanto, o oposto exato da keynesiana: ela determina que o governo se mantenha totalmente afastado da economia e se limite apenas a parar sua inflação monetária e a cortar seus gastos.
Parece que já foi completamente esquecido, mesmo entre os economistas, que a explicação misesiana sobre depressões obteve grande progresso precisamente durante a Grande Depressão dos anos 1930 – a mesma depressão que sempre é apresentada aos defensores do livre mercado como sendo o exemplo da maior e mais catastrófica falha do capitalismo laissez-faire. Acontece que a verdade é o oposto disso. 1929 foi o produto inevitável da vasta expansão do crédito bancário ocorrida no mundo ocidental durante os anos 1920: uma política deliberadamente adotada pelos governos ocidentais e principalmente pelo Federal Reserve System (o banco central americano). O crash de 1929 só foi possível graças ao fato de os países do mundo ocidental não terem retornado a um genuíno padrão ouro após a Primeira Guerra Mundial, o que permitiu que os governos adotassem políticas inflacionistas. Hoje, todo mundo acredita que o presidente Coolidge era um defensor ardoroso do laissez-faire e da economia desregulamentada. Ele não era. E muito menos acreditava em um livre mercado na área de moeda e crédito. Esse foi o fato trágico. Infelizmente, os pecados e erros das intervenções de Coolidge foram classificados como sendo políticas de livre mercado.
Se Coolidge fez com que o crash de 1929 fosse algo inevitável, foi o presidente Hoover quem prolongou e aprofundou a depressão, fazendo com que uma depressão que tinha tudo para ser efêmera – embora aguda – se transformasse em uma enfermidade permanente e quase fatal, uma enfermidade que só foi “curada” pelo holocausto da Segunda Guerra Mundial. Foi Hoover, e não Roosevelt, o fundador da política do “New Deal”: essencialmente, o uso maciço do estado para fazer exatamente aquilo que a teoria de Mises mais alertava contra – aumentar os salários acima do seu nível de mercado, elevar os preços, inflar o crédito, e emprestar dinheiro para manter atividades insolventes. Roosevelt apenas aprofundou aquilo que Hoover começou. O resultado, pela primeira vez na história americana, foi uma depressão quase perpétua e um quase permanente desemprego em massa. A crise iniciada sob Coolidge se transformou em uma depressão sem precedentes sob Hoover e Roosevelt.
Ludwig von Mises havia previsto a depressão durante o apogeu da expansão creditícia dos anos 1920 – uma era, assim como hoje, em que os economistas e políticos, armados com a “nova economia” – e sua contínua inflação monetária – e com novas “ferramentas” fornecidas pelo FED, proclamaram uma Nova Era de permanente prosperidade garantida pelos doutores econômicos do governo. Ludwig von Mises, sozinho, armado apenas com uma teoria correta dos ciclos econômicos, foi um dos poucos economistas a prever a Grande Depressão. Consequentemente, o mundo econômico foi forçado a ouvi-lo com respeito. F.A. Hayek difundiu os ensinamentos na Inglaterra, e todos os jovens economistas ingleses, no início dos anos 1930, estavam começando a adotar a teoria misesiana dos ciclos econômicos para suas análises sobre a depressão – e a adotar também, obviamente, as receitas estritamente de livre mercado que iam junto com essa teoria.
Infelizmente, os economistas de hoje adotaram a noção histórica deturpada em favor de Lord Keynes: que nenhum “economista clássico” havia elaborado uma teoria sobre os ciclos econômicos antes que Keynes surgisse em 1936. Havia, sim, uma teoria sobre depressões, e esta era a tradicional economia clássica; sua prescrição era estritamente uma moeda forte e o laissez-faire; e ela estava sendo adotada rapidamente na Inglaterra e até nos Estados Unidos, como sendo a teoria correta sobre os ciclos econômicos. (Uma ironia particular é que o maior propagador da teoria austríaca nos Estados Unidos foi o professor Alvin Hansen, que logo depois se tornou um famoso discípulo do keynesianismo).
O que sufocou a crescente aceitação da teoria dos ciclos misesiana foi simplesmente a “Revolução keynesiana” – a surpreendente influência que a teoria de Keynes alcançou no mundo econômico logo após a publicação da suaTeoria Geral em 1936. Não que a teoria de Mises tenha sido refutada; ela simplesmente foi esquecida no afã de se embarcar no repentinamente badalado carro alegórico keynesiano. Alguns dos principais partidários da teoria de Mises – que claramente entendiam melhor a situação – também sucumbiram à doutrina e à sua retórica oca, garantindo para si cargos importantes nas principais universidades americanas, como conseqüência.
Mas agora até mesmo a londrina The Economist, que já foi nada menos que a arquiteta do keynesianismo, recentemente proclamou que “Keynes está Morto”. Após mais de uma década de críticas incisivas e fatos econômicos que teimosamente refutavam a teoria, os keynesianos bateram em retirada. Novamente, está-se reconhecendo que a oferta monetária e o crédito bancário têm um papel decisivo nos ciclos econômicos. O momento é propício para uma redescoberta, para uma renascença, da teoria dos ciclos econômicos de Mises. Ela pode até não chegar em breve. Porém, no dia em que ela for aceita, a própria idéia de se ter um Ministério do Planejamento Econômico será abolida às gargalhadas, e veríamos o governo se retirando em massa – ou aos pontapés – da esfera econômica. Mas para que tudo isso aconteça, o mundo da economia, assim como o público em geral, precisa estar ciente de que há uma explicação sobre ciclos econômicos que foi relegada às prateleiras por muitos e trágicos anos.
____________________________
O tradutor agradece a estimada colaboração de Rodrigo Szuecs














Sem estado = sem pretexto para gastos estatais, logo, sem ciclos econômicos. Está aí uma ideia que os keynesianos devem seguir, já que eles desejam uma economia livre de ciclos: serem a favor da eliminação do estado.
E até mesmo para pararem de dar razão para a Escola Austríaca, pois os gastos estatais somente dá mais e mais razão à teoria austríaca dos ciclos econômicos.