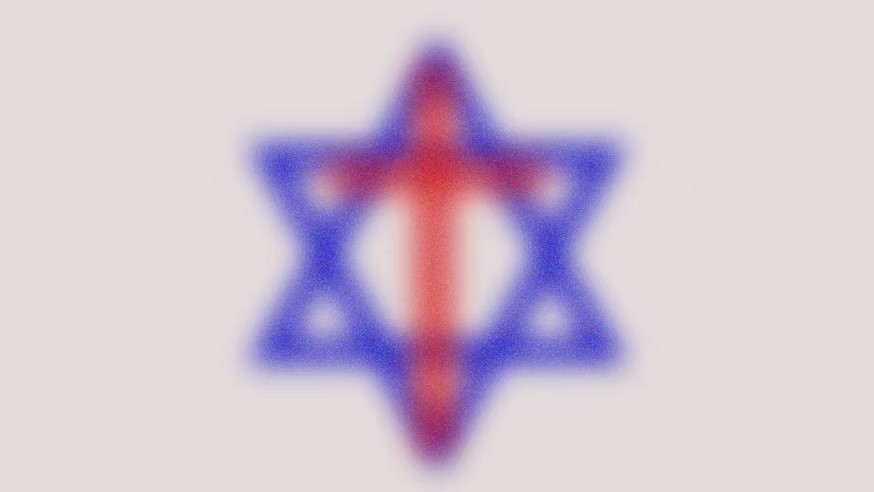
Fala-se muito, hoje em dia, especialmente dentro das fileiras da dita Nova Direita, de uma “moral judaico-cristã”, ou mesmo de uma “civilização judaico-cristã”. Que bicho é esse? O que, nele, é judaico, e o que é cristão? Mais ainda, dada a gigantesca abrangência destes termos, de que judaísmo e de que cristianismo estamos falando? Será que um católico pode, ou mesmo deve, abraçar esta terminologia e este pensamento? É disso que pretendo tratar neste texto, para que as pessoas honestas que, por horror ao comunismo materialista, pulam neste barco, saibam direito no que é que estão se metendo.
A primeira coisa a perceber é a diferença entre o judaísmo — todos os muitos judaísmos, aliás — e a cristandade. Ao longo de três ou quatro séculos, logo após a Ascensão, a Igreja e os vários judaísmos, dos quais praticamente um só persistiu, como veremos, foram se afastando. Foi apenas no Século IV, por exemplo, que foi proibido aos cristãos o uso de filactérios (caixinhas de couro com um trecho da Escritura, presas com longas faixas à testa e ao braço esquerdo, usadas pelos judeus para rezar). Ao mesmo tempo, o cristianismo também foi negado e atacado violentamente pelo judaísmo rabínico nascente como derivação do farisaísmo do Segundo Templo. Esta separação, assim, foi completa. A religião cristã, continuação perfeita do judaísmo do Segundo Templo, e o judaísmo rabínico, com raízes na seita farisaica daquele tempo e tendo como centro doutrinal o Talmude, série de livros escritos a partir do Século II na Galiléia e (principalmente) no Iraque, nunca mais se tocaram. Até a Declaração Nostra Aetate, no século passado, o judaísmo foi tolerado e, de uma certa maneira, protegido pelo cristianismo na Europa (por exemplo, o único bairro judeu europeu em que jamais houve violência da parte de cristãos contra os habitantes foi Roma, tendo também sido encomendada por um Papa a primeira edição impressa do Talmude), não havendo, todavia, possibilidade alguma de misturar a água e o óleo. Para qualquer judeu ou católico dos últimos mil e seiscentos anos, a expressão “judaico-cristão” faria tão pouco sentido quanto “doce salgado” ou qualquer outra contradição em termos.
Esta proteção que a cristandade deu ao judaísmo ocorreu na forma de uma separação quase completa das comunidades judaicas e da sociedade cristã que as circundava. Evidentemente, continuou-se a fazer negócios (tendo sido judeu por séculos na maior parte da Europa o monopólio da agiotagem, proibida aos cristãos mas, no judaísmo, permitida quando o dinheiro é emprestado a juros apenas a não-judeus); os judeus chegaram a ser, no imenso território da Polônia e Lituânia medieval, encarregados de funções de Estado, como a coleta de impostos, atraindo assim sobre si o ódio da comunidade e poupando os governantes.
A ideia de, por exemplo, um casamento entre um cristão e uma judia, ou vice-versa, era inimaginável. Ambas as comunidades se oporiam violentamente a tal união, e provavelmente um ou ambos os pombinhos acabariam sendo mortos, linchados por duas multidões enfurecidas, uma cristã e outra judia. Os cristãos ficavam de um lado e os judeus de outro, sem que houvesse qualquer tentativa de vida em comum. Afinal, a base da sociedade então era a religião; não existiam, por exemplo, registros civis (que vieram mais tarde a substituir os registros paroquiais de batismos e os registros sinagogais de circuncisões), casamentos laicos, etc. A religião era a orientação básica da vida tanto de cristãos quanto de judeus, o que fazia com que as sociedades pudessem viver em relativa proximidade, mas com uma nítida separação geográfica, com os judeus morando em bairros judeus e os cristãos no resto, mais ou menos com se vê ainda hoje nos Estados Unidos com as separações entre pretos e brancos. A orientação de cada comunidade era dada pela religião, com as devidas legislações morais desempenhando o papel que hoje compete aos códigos penais e civis. Aos cristãos era proibido o que a Fé cristã proíbe, e aos judeus era proibido o que sua lei proibia, de tal forma que o que era um crime para um poderia perfeitamente ser uma obrigação para outro.
Com a Era moderna, todavia, iniciada com a revolta protestante, as coisas mudaram. A nova religião protestante dominou a maior parte dos territórios do Norte europeu (a periferia da periferia de então, sendo em grande parte de evangelização recente), e as guerras de religião que se seguiram, opondo a nova à antiga religião cristã, só cessaram, de início, com a adoção de uma regra pela qual a religião do governante seria necessariamente a religião do território por ele governado. Esta regra cortava pela raiz, todavia, o que sempre fora a base da organização social até então, não apenas na Europa cristã mas por toda parte: a religião como base da moral, como base da organização social e como limite dos atos do soberano. Afinal, se o certo e o errado mudavam quando se cruzava uma divisa entre dois territórios, eles não podiam deixar de ser vistos como arbitrários.
Daí foi um passo para o surgimento de estados ateus e laicais, em que a base da organização social não era percebida como religiosa, consistindo basicamente dos costumes locais (que, por sua vez, certamente tinham em sua maior parte origem religiosa, justamente por serem costumeiros, anteriores àquele estado novo das coisas) e, o mais importante para este texto, determinações dos governantes. A chamada “lei positiva”, que antes era percebida como apenas uma maneira de tampar alguns buracos e impedir problemas de vizinhança através da adoção de regrinhas para uma que outra coisa que de outra forma, sendo de livre escolha, poderia levar a pequenos problemas. Então o que antes era restrito à determinação de coisas como horário de feiras, coisas assim, passou a ser progressivamente mais e mais importante, de tal modo que mesmo os costumes pararam de valer como lei na maior parte dos países, passando a tentar organizar a sociedade apenas o que fosse inscrito em lei positiva. Daí, por exemplo, os nossos modernos códigos penais, civis, e tudo o mais. O que continua mantendo a sociedade organizada não são, nunca foram e jamais seriam eles, mas a ilusão de que assim seria espalhou-se, enquanto na prática os antigos costumes continuavam a manter as sociedades mais ou menos em paz.
Neste momento histórico, então, surgiu na maior parte dos países uma possibilidade, e em muitos um movimento, de inserção plena dos judeus na sociedade civil. Afinal, se se tinha leis que supostamente não teriam base religiosa a gerir a sociedade, que mal haveria em inserir no conjunto dos cidadãos os seguidores de outra fé? Este movimento, evidentemente, foi mais forte nos países que haviam aderido à nova religião protestante, na medida em que logo após seu surgimento ela se subdividira em centenas, ou mesmo milhares, de novíssimas religiões, cada uma com uma crença diferente e com práticas religiosas contraditórias, fazendo com que o descompasso entre a religião e a lei positiva só fizesse crescer, por aquela não ser mais capaz de prover uma base sólida para a convivência em sociedade.
No interior das comunidades judaicas, todavia, este movimento para integração dos judeus à sociedade como um todo não foi nem um pouco bem-visto pela maioria, visto que ele, na prática, impedia a prática religiosa judaica costumeira. Afinal, apenas para dar um pequeno exemplo, se os judeus se espalhassem pela cidade, seria impossível cumprir os mandamentos de reunir-se na sinagoga para oração aos sábados e não usar meios de transporte no mesmo dia da semana. Do mesmo modo, o perigo de jovens judeus estudarem com jovens não-judeus fatalmente levaria à tentação de casamentos mistos, frontalmente proibidos pela lei judaica, devendo os pais tratar como morto, inclusive com os rituais de luto, os filhos que os contraíssem. Os trajes judaicos tradicionais, em grande parte considerados religiosamente obrigatórios, também seriam inexoravelmente deixados de lado por aqueles que quisessem misturar-se à sociedade como um todo. E por aí vai: por ser uma religião de base tribal, cujo exercício demanda a presença de uma comunidade unida e próxima, para o judaísmo a assimilação de judeus na sociedade mais larga sempre foi vista como um enorme perigo.
E, na verdade, foi exatamente o que aconteceu: o movimento pela cidadania judaica foi comandado por judeus que não eram mais religiosamente observantes, e levou a uma tremenda diminuição da observância religiosa entre os membros daquela nação. Em duas ou três gerações, a maioria dos judeus já era irreconhecível da comunidade não-judia. O pertencimento ao judaísmo passou, para muitos, a ser uma característica cultural, com algumas comidas e datas comemorativas, mas sem que a prática religiosa das gerações anteriores informasse a vida dos judeus “aculturados”. É um triste exemplo, mas houve judeus que abdicaram da busca de um lar nacional para os judeus, neste período, por considerarem-se antes alemães que judeus e verem na conquista da cidadania alemã o cumprimento das promessas messiânicas! Mal sabiam eles da porta do Inferno que se abriria ali mesmo para os devorar.
Na Inglaterra, nesses mesmos poucos séculos, a substituição da religião católica pela nova religião protestante enfrentou alguns soluços únicos. O maior deles foi causado pelo fato de a Inglaterra, na adoção do protestantismo, tê-lo feito na forma teórica de um cisma: a Comunhão Anglicana seria, para todos os efeitos a “Igreja Católica Inglesa”, separada de Roma e governada pelo Rei. Henrique VIII, o rei inglês que inventou esta instituição, afinal, queria apenas divorciar-se à vontade (ou melhor: declarar nulo à vontade cada casamento seu sucessivo que não lhe desse filhos homens, sem sequer liberar o divórcio para seus seguidores ou descendentes). Antes de brigar com a Igreja de Cristo, ele havia até mesmo escrito um livro em defesa da Fé católica contra as inovações protestantes! Assim, sua “Igreja” nova começou apropriando-se dos bens e dos clérigos católicos do país, sendo mortos os que se recusassem a participar.
Como sói acontecer no protestantismo, contudo, a unidade pretendida por Henrique VIII não durou praticamente nada, e grupos de anglicanos adotaram credos diversos importados do continente, dividindo-se, então, na prática, o anglicanismo em dois grandes grupos (“Igreja Alta”, que imitava em quase tudo — menos no celibato dos sacerdotes e no Primado papal — a Igreja Católica, e “Igreja Baixa”, de orientação calvinista, sem santos, sem Missa…) que, claro, por sua vez dividiram-se mais ainda. Houve então uma série enorme de revoluções e golpes de Estado na Inglaterra, simultâneos às Guerras de Religião da Europa e persistindo até mesmo depois delas, em que alternaram-se no poder os membros de uma e de outra ala do anglicanismo, sempre perseguindo os “hereges” igualmente anglicanos.
A ocupação e colonização da América do Norte ocorreram, em grande medida, em função dessas idas e vindas; o primeiro grupo de ingleses a estabelecer-se por lá, no atual Nordeste americano, foi justamente um grupo de calvinistas (os “peregrinos” puritanos — o puritanismo é a variedade inglesa do calvinismo), perseguidos por um governo de “Igreja Alta”. O Sul dos EUA de hoje, por sua vez, foi colonizado por anglicanos de “Igreja Alta”, predominantemente segundos e terceiros filhos de nobres, perseguidos por um governo puritano. A área da costa atlântica entre um e outro, com seu centro na Filadélfia, foi colonizado por Quackers, uma seita extremamente “Igreja Baixa”, mas não calvinista, perseguida por todos os outros. A região montanhosa imediatamente a oeste dessas áreas — que seria, pelos acordos operados entre o governo inglês e as tribos indígenas da região, o limite da colonização — foi colonizada pelos ditos “escoceses da Irlanda”, descendentes diretos de habitantes protestantes da Escócia transferidos na marra para a Irlanda católica com o objetivo de tornar os católicos minoria na região.
Não havia, assim, uma religião comum no novo território. Só o que unia os vários grupos era a adoção de modalidades contraditórias de protestantismo e, em grande medida, a força da maçonaria em todo o território. Todos os “Pais da Pátria” americanos eram maçons. Quando, então, a Coroa inglesa anunciou que seriam terminantemente proibidas as tentativas de colonização mais a oeste, os colonos, indignados, levantaram-se em armas contra o Rei e proclamaram a independência americana. Com o passar dos anos, décadas e séculos, os descendentes daqueles colonistas, acompanhados por muitos novos imigrantes (predominantemente ingleses e alemães), em grande medida em guerra aberta contra a Igreja Católica, que já evangelizara o atual Oeste americano praticamente todo (vai dizer que você nunca reparou que o nome do famoso cacique Geronimo é uma homenagem a São Jerônimo, ou que há por lá enorme quantidade de cidades com nomes católicos, de Sacramento a São Francisco, etc?), dominaram a enorme faixa do Atlântico ao Pacífico que constitui os EUA de hoje. Até hoje há peculiaridades culturais ligadas a cada uma das religiões protestantes dos territórios iniciais de colonização marcando diferenças entre as áreas colonizadas a partir de cada um deles.
Na hora da independência, todavia, fazia-se necessário um mito fundador, algo que separasse os novos EUA (inicialmente apenas os treze atuais estados mais a nordeste) da Inglaterra. A separação mais evidente, claro, para gente que havia vindo de lá fugida por razões religiosas, era a questão de religião oficial. Os EUA, ao contrário da Inglaterra, não teriam uma “Igreja Estabelecida”. A própria Comunhão Anglicana por lá faz-se chamar “Igreja Episcopaliana”, e mesmo que sua catedral seja a “igreja oficial” dos presidentes, a denominação que a mantém não é a “Igreja” (com “I” maiúsculo) oficial.
Foi então criado um sucedâneo de religião, uma religião de Estado, em que a doutrina religiosa em que se crê, o lugar em que se cultua Deus e a forma como se o faz não importam, desde que se coloquem abaixo do “civismo”, do culto à bandeira e datas pátrias, e todas essas coisas que estão neste momento sendo demolidas pela nova reforma que se alevantou usando a “importância de vidas negras” como desculpa. Em suma, inventou-se uma religião completamente maçônica.
Era necessário, todavia, impedir que tivessem direito de cidadania, ainda que limitado, as religiões dos africanos escravizados (forçados a adotar o protestantismo) e de outros “pagãos” (entre os quais, por grande parte da História americana, em muitos lugares, os católicos). Assim, criou-se essa mitologia de uma “sociedade judaico-cristã”, em que a parte “judaica” entrou à força dada a absorção de Nova Iorque, onde no tempo da dominação holandesa havia se instalado uma importante colônia judaica.
Mas tanto o “judaico” quanto o “cristão” desta lenda só o são na estrita medida em que se os pode colocar abaixo da lei positiva e da religião maçônica de Estado, e submetê-los ao imperativo do materialismo mais crasso. Não se trata de algo que tenha vindo do judaísmo ou da moral judaica, nem do cristianismo e da moral cristã tradicional. Ao contrário, são a negação do judaísmo religioso e do cristianismo tradicional; são sua substituição por uma “religião” do mais puro materialismo, cuja função principal é substituir o culto a Deus pelo culto de Mammon. Não é nem mesmo uma destilação de um “mínimo denominador comum”, mesmo porque tal não há entre judaísmo e cristianismo, que são religiões tremendamente diferentes, sendo o cristianismo universalista e o judaísmo tribal (e, portanto, tendo obrigações diferentes para com correligionários e para com não-judeus, sendo em muitos casos obrigatório, ou ao menos uma boa ação, levar vantagem sobre o não-judeu). A lenda americana, na verdade, diz respeito a uma vaga compilação de elementos culturais de base principalmente calvinista, mas tremendamente desviados até mesmo do calvinismo original no sentido de um forte imanentismo, de um materialismo grosseiro em que a busca de fortuna material é o maior mandamento, cozinhados num caldo maçônico de superioridade absoluta do imanente e irrelevância completa do transcendente. Trata-se de algo completamente contrário ao catolicismo e a quase toda forma de judaísmo minimamente religioso ou praticante. Essa fantasia nada tem de judaica, nem de cristã; ao contrário, ela é total e completamente maçônica, sendo esta seita, em última instância, a base da sociedade e da legislação positiva americana, bem como, é claro, de sua religião de Estado.
Artigo originalmente publicado no blog do autor















Diversas informações e afirmações questionáveis, mas errado necessariamente não tá.
O rabino ortodoxo Eliezer Berkovits, por exemplo, diz que: “O judaísmo é judaísmo porque rejeita o cristianismo, e o cristianismo é cristianismo porque rejeita o judaísmo”.
Do que você está falando Nikus?
TV israelense zomba de Jesus
—————————–
Programa de TV israelense zomba da crucificação de Jesus e o chama de nazista
https://www.youtube.com/watch?v=1z5gREeiiO8
Muito bom esse artigo. Não conhecia esse autor.
A religião contínua sendo a base do ser humano, mesmo que não pareça às vezes. Para o bem ou para o mal, católicos romanos e todo o resto, respectivamente.
Eu adorei uma frase do Fernando Chiocca que eu li uma vez aqui: o ateísmo é uma ideologia confusa.