e a tentação do anarquismo
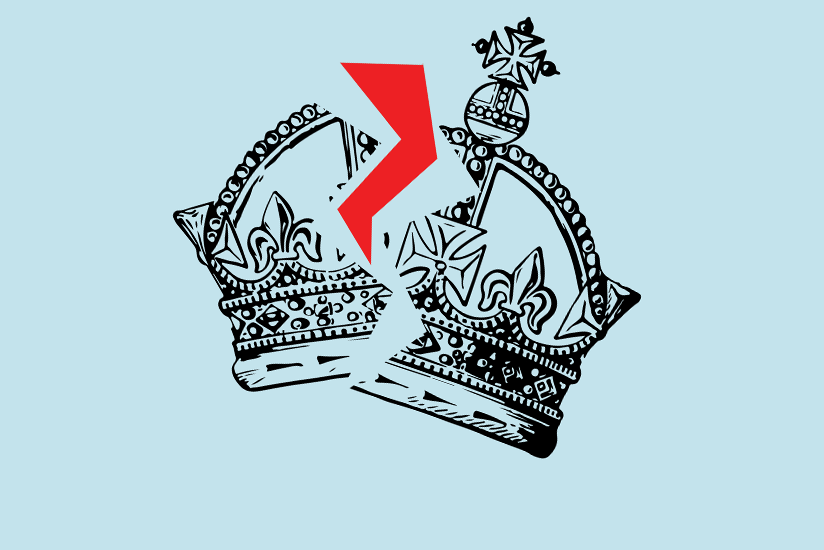
Eu entendo os anarquistas. Ainda mais os anarquistas ricos. De certa forma, um anarquista do Primeiro Mundo é como alguém que só teve um pai abusivo, e acaba rejeitando o próprio conceito de família. Se eu morasse em um lugar onde todas as leis que um Estado moderno tenta promulgar fossem cumpridas, a tentação anarquista seria realmente forte. Felizmente, moro em um país cujo idioma não possui uma forma de dizer “law enforcement”, e onde as leis podem “pegar” (ou seja, ser aceitas e obedecidas) ou não. A maioria delas não pega, e absolutamente ninguém no Brasil jamais consideraria a possibilidade de confundir meras leis promulgadas pelo Estado com preceitos morais.
O problema, porém, não são as leis em si, mas todo o pacote: a função do Estado, seus poderes, seus limites se houver, o que é Lei (ou uma lei), e assim por diante. Como sempre, a história é longa; um pedaço bastante grande da História que leva à situação atual. Essa é a história que tentarei contar aqui.
Leis promulgadas pelo Estado (por um governante pessoal, na verdade, já que ainda não havia Estados impessoais) eram algo bastante raro em qualquer lugar há 500 anos. Esperava-se que as pessoas fizessem o que todo mundo faz e se abstivessem de fazer o que outras pessoas não faziam, e é isso. De certa forma, essa noção persiste em todos os lugares; policiais, por exemplo, tendem a ver criminosos e encrenqueiros em geral não exatamente como infratores da lei, mas como pessoas que fazem coisas que pessoas decentes não fariam. “Eu não saio por aí roubando coisas; por que ele faz isso?! O lugar desse canalha miserável é na cadeia.”
Isso é o que os sistemas jurídicos anglo-saxões tentaram preservar com a noção de regra de direito consuetudinário; os casos difíceis seriam resolvidos encontrando um caso anterior que se parecesse mais ou menos e, em seguida, estendendo a decisão precedente para a nova situação aparentemente relacionada. Funcionou bem para pequenas comunidades muito unidas, mas quando sociedades cada vez maiores tentaram se governar dessa maneira, as coisas começaram a piorar. Afinal, o que é óbvio em um determinado lugar e grupo social pode soar absurdo em outro lugar, e não há nada que impeça que ambos estejam dentro do mesmo ordenamento jurídico.
A outra abordagem para um sistema legal é o romano, criado com um vasto império, de pessoas e culturas amplamente diferentes. Nele, não há lugar para o direito comum: tudo o que se proíbe está escrito, e tudo o que não é proibido é permitido. É assim que os sistemas judiciais funcionam na maior parte do mundo. Uma coisa que algumas pessoas não percebem sobre isso, porém, é que em um sistema de Direito Romano todo juiz é, na prática, bastante livre para interpretar a lei escrita à sua maneira. É parecido com a liberdade de movimento da Suprema Corte americana em torno da Constituição: o texto básico é o mesmo, mas nem todas as Supremas Cortes são iguais, e o que uma encontra na Constituição não é visto por outra.
Assim, a lei, no sistema romano, acaba por não ser de forma alguma algo a ser obedecido literalmente, mesmo que tal literalidade fosse possível. As leis são diretrizes, não obrigações morais, e o costume tem muito a ver com como (ou se) determinada lei é compreendida e aceita pela sociedade em geral. Por outro lado, nos últimos duzentos e alguns anos, à medida que a sociedade moderna se tornou ainda mais louca, houve uma espécie de revolução nos sistemas jurídicos em todos os lugares (e na teoria jurídica também, é claro). As burocracias começaram a tentar conceder a si mesmas mais poder tratando a lei escrita como se fosse simplesmente divina. Isso é chamado de “positivismo”, pois as leis promulgadas são chamadas de “direito positivo”, em contraste com o direito consuetudinário. Tommaso Beccaria, o teórico do direito italiano, escreveu certa vez que um julgamento deveria ser “o silogismo perfeito”, em que o texto da lei seria a premissa maior, as ações do réu a premissa menor e a sentença a consequência impessoal. O jovem pirralho era completamente ignorante sobre como o mundo funcionava; não é à toa, pois tinha 26 anos quando escreveu Dos Delitos e das Penas, sua obra mais importante.
De qualquer forma, em seu tempo, confundir texto impresso com divindade já era algo que tinha alguns séculos de história. A atual teoria do Estado todo-poderoso vem desse tipo peculiar de loucura, aliás. Quando o crepúsculo da civilização ocidental foi iniciado por um monge martelando um pedaço de papel na porta de uma igreja (coincidentemente no Halloween!), havia pressões sociais muito fortes se formando em todo o norte da Europa. A criação de frei Martinho Lutero de uma religião totalmente nova com conotações islâmicas não foi uma causa, mas uma consequência de sua martelada. Ele só queria desafiar um cara que estava em seu bairro arrecadando fundos para a construção da Basílica de São Pedro (em Roma) para debater com ele sobre os truques de marketing muito questionáveis de seu fundraiser. A véspera do dia de Todos os Santos era o momento perfeito para pregar suas propostas na porta daquela igreja em particular, já que no dia seguinte seria realizada a maior exposição de relíquias sagradas de todo o norte da Europa. As pessoas estariam vindo de centenas de quilômetros ao redor, e a notícia do desafio certamente chegaria ao mascate.
Frei Martinho, porém, era professor de Sagradas Escrituras; portanto, ele realmente leu tudo pelo menos uma vez. O sujeito que ele estava desafiando, por outro lado, provavelmente não saberia mais do que o que foi lido na liturgia, mesmo que tivesse algum treinamento teológico formal. Afinal, as Sentenças de Pedro Lombardo – não as Escrituras, nem a Patrística, nem a Liturgia… – eram o foco principal dos estudos teológicos superiores da época. Assim, para facilitar para si mesmo, Frei Martinho apresentou uma regra para o debate: todo e qualquer argumento deve ser extraído das Escrituras. Uma regra não muito justa.
À medida que as coisas começaram a esquentar em torno do que era a princípio um desafio legítimo, Lutero intensificou sua ideia de “somente das Escrituras”, eventualmente usando o que começou como um pequeno truque de debate para virar a cristandade de cabeça para baixo e basicamente destruir a sociedade europeia pela criação de uma realidade alternativa. Afinal, a religião era então, e de fato ainda é, a própria forma de realidade tanto para a sociedade quanto para os indivíduos. A religião – seja o cristianismo, o islamismo, o budismo ou o moderno ateísmo/cientismo – é a fonte da lente através do que vemos, da lógica com a qual interpretamos o mundo ao nosso redor. Naquela época, na Europa, religião significava uma coisa, e apenas uma coisa, em todos os lugares. Não apenas seus princípios morais formavam a estrutura de comportamento aceitável, mas o tempo religioso – o calendário litúrgico – deu às pessoas a própria noção de tempo; as práticas religiosas – por exemplo, peregrinações como a que conduz àquela igreja particular no Dia de Todos os Santos – eram essencialmente universais e compartilhadas por todos; a autoridade religiosa era a base da autoridade civil, e assim por diante.
A frase acima não significa que um rei foi considerado um procurador de Deus. Muito pelo contrário, na verdade. Significa que o trabalho de qualquer governante pode e deve ser comparado com o que era então universalmente aceito como vindo de Deus, e ele governaria como representante do povo. Não de Deus: do povo. Vox populi vox Dei: a voz do povo é a voz de Deus, e muitas vezes era a visão do povo sobre o que era certo e o que era errado, dentro do contexto de um consentimento religioso absolutamente unânime, que manteria ou deporia reis e príncipes. A autoridade de um governante, portanto, dependia de como ele usava sua – bem pequena – autoridade. Ele realmente tinha o poder de aprovar algumas leis positivas, mas a lista de requisitos era bastante vasta; entre outras coisas, ele não podia aprovar uma lei que não fosse útil ou que fosse contra o costume estabelecido. Sua regra na sociedade era a de, digamos, um velho patriarca que não diria a seus filhos e netos como governar suas próprias casas, mas cuja autoridade seria respeitada para resolver uma disputa entre alguns deles. Além disso, toda a sua autoridade vinha de compromissos pessoais de mão dupla, nos quais ele teria que proteger cada uma das pessoas que viviam em “seus” territórios, e eles teriam que alimentar ele e seus diminutos militares. Ele era tanto um servo da terra quanto o servo mais baixo, pois nenhum deles podia abandonar o território e ambos tinham que servir a ele e seu povo, cada um a seu modo.
Mas já havia um pauzinho feio na engrenagem da sociedade: o dinheiro. Mais especificamente, o fato de que havia uma presença cada vez maior do dinheiro na sociedade, mas a sociedade não tinha lugar para isso. De acordo com a Lei – isto é, com o costume – alguém poderia nascer guerreiro ou agricultor, e a única escolha real de carreira que se tinha era se iria ingressar no clero (isso o tirava de ambas). O dinheiro não fazia diferença: um guerreiro rico ainda deveria ser um guerreiro, arriscando seu pescoço pelos outros, e um agricultor rico ainda deveria lavrar a terra com suas próprias mãos. No entanto, não se podia comprar ou vender terras, e todo o dinheiro do mundo não podia transformar um guerreiro em agricultor, ou vice-versa.
Mas nos últimos séculos o comércio começou a enriquecer algumas pessoas. A maioria vinha de famílias de agricultores. Não havia lugar para os ricos na sociedade, mas eles conseguiram esculpir um para si usando seu dinheiro em benefício dos militares. Não é uma coisa nova, veja você; na verdade, algumas dessas pessoas continuaram fazendo isso até nossos dias. O principal fabricante de armas da Alemanha em ambas as guerras mundiais foi a Krupp, um conglomerado familiar que começou naquela época como um negócio familiar.
Antes que os ricos chegassem à cidade, não havia cidade. Havia castelos, com fossos, mas infelizmente sem dragões, e terras. Quando havia guerra, os civis entravam no castelo e os militares saíam, mas em tempos normais era o contrário. Agora havia algo que se podia fazer com dinheiro, e os novos ricos começaram a financiar muros cada vez maiores ao redor das muralhas iniciais do castelo e, por sua vez, construíram casas e lojas dentro das novas muralhas.
O nome dessas cidades comerciais que se desenvolveram entre as muralhas originais e as novas e maiores do castelo era “Bourg” (ou “burgo”), e seus habitantes ficaram conhecidos como “burguesia”. Compreensivelmente – essa é a natureza humana; as queixas serão dirigidas a Adão e Eva, no balcão número um –, os militares e a burguesia geralmente teriam diversos confortos, em detrimento dos pobres ainda fora de seus muros. Na época de Lutero, as revoltas dos camponeses estavam começando a ser comuns em todos os lugares, mas os nobres (ou “gentis”, ou – como eu os tenho chamado, “os militares”) estavam de mãos atadas por esse desagradável negócio de obedecer a Deus. A revolução de Lutero lhes deu uma saída.
Mais do que isso: ele se instalou como a nova autoridade religiosa, que diria aos príncipes que lhe perguntassem como lidar com aqueles camponeses revoltados para “matá-los como cachorros”. Uma mão lava a outra, porém, e foi o que aconteceu quando o ex-monge descobriu que substituir a filha (Escritura) pela Igreja Mãe não faria com que sua própria leitura das Escrituras fosse automaticamente aceita por todos que gostassem de seu novo truque “Sola Scriptura”. Essa coisa de “matar como cachorros” foi estendida a todas as seitas que não se juntaram a sua nova Igreja Luterana aprovada pelo Estado (ou melhor, aprovada pelo governante local, centenas de vezes; os Estados ainda eram muito pequenos e sem importância, e – acima de tudo – o poder era 100% pessoal: o Estado era seu rei). É por isso que, a propósito, todas as denominações protestantes de hoje podem traçar suas linhagens institucionais e teológicas até uma ou duas das três seitas protestantes aprovadas pelo Estado do século XVI: luterana, calvinista e anglicana. Todas as outras opções originadas inicialmente de A Sola Scriptura foram literalmente eliminadas. Mortas como cachorros.
De certa forma, algo bastante semelhante já havia acontecido alguns séculos antes, quando a seita gnóstica dos cátaros surgiu no atual sul da França. Como tornar-se um cátaro supostamente libertava de todos os compromissos e obrigações anteriores, e as obrigações e compromissos pessoais decorrentes de votos formais eram a base da ordem social, as pessoas ficavam tão bravas com os cátaros que começavam a matá-los. Nomear-se júri, juiz e carrasco, no entanto, era um grande senão para a Igreja, e foi assim que a Inquisição nasceu para libertar os falsamente acusados. Mas isso é outra história, para outra hora.
O sul da França na época dos problemas cátaros era o centro do mundo; o norte da Europa no tempo de Lutero era o deserto. Foi assim que a nova religião conseguiu tempo suficiente para crescer uma massa crítica e, assim, sobreviver muito mais tempo do que o catarismo. O calvinismo – apoiado diretamente pela burguesia de Genebra, sem intermediários nobres – era então um fenômeno principalmente local, que sobreviveu tanto pelo caos completo no Norte quanto pela falta de importância da Suíça na época. O fato de os suíços serem tão ferozes que todos queriam contratá-los como mercenários também não prejudicou.
Assim começaram as Guerras Religiosas Europeias e, por gerações e gerações, a Europa tornou-se um vasto campo de batalha onde os seguidores da Antiga e da Nova Religião tentavam obter vantagem para libertar os outros do jugo de suas horríveis heresias e superstições. Tempos muito ruins mesmo.
A “solução” para tudo veio com o Tratado de Vestfália, cem anos de derramamento de sangue depois. Pode ser resumido como cujus regio eius religio, isto é, literalmente, cujo rei é sua religião: a religião de cada pequeno governante seria imposta a todos os seus súditos. Em outras palavras, enquanto antes da revolução luterana todos concordavam sobre o que Deus queria que um governo fizesse, e sua autoridade repousava em sua conformidade com essa visão comum, depois da Vestfália cada governante local ganhou autoridade para decidir por conta própria qual seria a verdade de Deus. Os reis foram, de fato, colocados acima de Deus, tendo sido concedido o direito de julgar se o que sempre foi considerado por todos em todos os lugares como Revelação Divina era ou não verdade.
Foi isso que abriu o caminho para toda aquela coisa feia de “direito divino” absolutista. Ainda assim, é engraçado usar o termo (técnico) “absolutismo”, pois os poderes de um Luís XVI eram muito menos absolutos do que os de qualquer burocrata intrometido de nossos dias. Tendo sido libertados de toda lealdade, controle ou equilíbrio mais elevados, de qualquer maneira, os absolutistas podem realmente ser bastante irritantes. Entendo sinceramente como os colonos americanos se sentiam em relação aos monarcas britânicos, especialmente quando se pensa que quase todas as colônias americanas britânicas começaram como locais de refúgio para pessoas que fugiam de algum tipo de perseguição religiosa nas mãos de quem estava no comando de Westminster na época.
É interessante notar que tivemos facilidade na Península Ibérica. Os mouros (invasores muçulmanos) tinham acabado de ser expulsos, e ninguém tinha tempo para bobagens da Nova Religião. De fato, a descoberta e a colonização espanhola e portuguesa da atual América Latina foram então vistas como parte da luta pela libertação das terras cristãs ocupadas pelo Islã. Colombo estava tentando encontrar uma maneira de chegar a Jerusalém “por trás”, e os portugueses queriam cortar os comerciantes muçulmanos do comércio indiano para impedi-los de financiar a defesa muçulmana do norte da África. A América estava apenas no caminho, mas a combinação de adoração ao diabo em grande escala e sacrifício humano a ser combatido (quem não faria?!) e ouro a ser enviado para casa tornou um “obstáculo” bastante fortuito.
De qualquer forma, o próximo passo lógico aconteceu um século depois (as coisas costumam demorar em torno de um século para serem totalmente digeridas na geopolítica), quando o rei absoluto foi substituído pelo “Povo” absoluto (o coletivo imaginário de pessoas da vida real), cujos supostos poderes de autogoverno foram obviamente “abdicados” desde o início do Estado absoluto. E assim nasceu o Estado Moderno.
Enquanto um rei pré-moderno era uma pessoa que jurou proteger cada uma das pessoas em seu reino, o Estado é impessoal e lida com grandes multidões, não com pessoas individuais. Enquanto aquele rei mantinha uma visão comum de certo e errado previamente existente e tinha poderes muito limitados, o poder do Estado acaba determinando o que é certo. De fato, o Estado não só se constitui de acordo com um marco legal que ele mesmo escreveu (sua “Constituição”) e pode alterar ou até substituir à vontade, mas também acredita que deve possuir o monopólio da violência, nada menos.
As pretensões universalistas da “razão” moderna, aliás, tendem a negar o próprio ser do indivíduo mesmo afirmando-o teoricamente, como foi o caso da versão americana da mesma revolução moderna. Não havia compromisso pessoal, nenhum voto pessoal de lealdade trocado entre governante e governado, apenas um conjunto bastante artificial de restrições ao poder do Estado. E mesmo isso veio como uma reflexão tardia, na Bill of Rights (Declaração de Direitos), que restringe principalmente o poder do Estado central, mantendo-o nas mãos de Estados federados individuais. Pressupõe-se que o “indivíduo” seja quase intercambiável com todos os outros indivíduos, não tendo nenhuma relação direta e pessoal com o responsável – seja ele um Washington ou um Biden –, aquele a quem teoricamente teria cedido sua autonomia pessoal. O indivíduo moderno só existe como parte do Povo, e “Nós, o Povo” sempre acaba sendo um bando de caras ricos isolados em uma sala trancada conversando entre si.
O Estado, tendo absorvido o poder supostamente cedido como um todo pelo “povo”, é ainda mais absoluto, muito mais absoluto, do que qualquer rei inglês ou francês maluco. Afinal, enquanto um rei ou rainha absolutista podia ignorar a vida real de “seu” povo a ponto de acreditar honestamente que “comer brioche” poderia ser uma solução quando não havia pão, um Estado moderno tinha olhos sem fim. Hoje em dia, com toda a tecnologia que um Estado pode colocar a seu serviço, seu problema não é ignorar o que realmente significa a falta de pão, mas analisar todo o vasto fluxo de dados brutos que chega. Ele ouve cada palavra falada em cada celular, mas precisa descobrir o que vale a pena ouvir. Ele vê todo mundo que anda na frente de cada câmera, mas precisa descobrir quem observar. E assim por diante.
No que costumava ser chamado de Primeiro Mundo (hoje em dia atende pelo irônico apelido de “ocidente coletivo”), para piorar ainda mais, a máquina do Estado tende a funcionar. Toda lei tola e inútil – que para a filosofia jurídica medieval não seria uma lei – é de fato aplicada; a maioria dos impostos é paga; a maioria das escolas públicas faz um bom trabalho ao doutrinar as crianças pobres; e – mais crucialmente – não apenas a lei promulgada pelo Estado é vista como um mínimo moral, mas os mecanismos de resolução de conflitos centrados no Estado são amplamente usados, espontaneamente, por pessoas comuns.
Lembro-me de quando uma amiga brasileira em Paris contou a outra senhora com quem trabalhava sobre os problemas que seu filho estava lhe causando, e a prestativa senhora francesa moderna deu a ela um número gratuito dos serviços sociais municipais para ela telefonar. Minha amiga ficou chocada, pois nunca teria passado pela cabeça dela colocar seu filho nas mãos de burocratas municipal por algo que obviamente era problema dela. Ela buscava algumas palavras calorosas, talvez um ombro para chorar, ou mesmo algumas dicas de educação infantil de sua amiga; para ela, mandar procurar burocratas foi um balde de água fria.
Mas quando as pessoas estão acostumadas com isso, e – muito pior – as burocracias do Estado tendem a fazer a maior parte do que dizem fazer, o poder do Estado só pode crescer e crescer. É muito mais fácil encontrar pessoas que dirigem sem habilitação no Brasil do que nos EUA, por exemplo. Afinal, mesmo que nos Estados Unidos as pessoas considerem o DMV o ápice do mau funcionamento da burocracia, não é preciso passar mais do que algumas horas lá para tirar a carteira de motorista. No Brasil, é um processo de meses, e todo mundo precisa passar pelos mesmos aros (incluindo dezenas de horas de aulas obrigatórias, tanto teóricas quanto em carros especialmente preparados com dois conjuntos de pedais) para pegar aquele papel inútil, aquele talismã cuja única função é fazer os policiais deixarem uma pessoa seguir seu caminho em paz. Obter uma carteira de motorista no Brasil custa um pouco mais do que se ganha por alguns meses de trabalho em um emprego de salário mínimo em tempo integral, e a idade mínima para iniciar o longo processo de obtenção de carteira de motorista é dezoito anos. No entanto, não é tão difícil perdê-la e ser obrigado a refazer toda a bagunça, pois as multas de trânsito vêm com “pontos”, e chegar a um certo número deles (uma multa de dirigir alcoolizado faria isso) significa perder a licença e ter que reiniciar todo o processo. Durante o primeiro ano de condução habilitada, qualquer multa de trânsito é suficiente para fazer a pessoa perder o precioso talismã.
Países que não são totalmente modernos – essencialmente em todos os lugares da Terra, exceto no antigo Primeiro Mundo – tendem a ser assim. É fácil entender por que as pessoas não confiam no governo; não em um sentido ideológico, como um anarcocapitalista não por uma questão de princípio, mas por experiência. O grande Theodore Dalrymple (cujo nome uma vez vi junto com o meu na mesma página de “conteúdo” da revista The European Conservative; eu consegui, mamãe, cheguei lá!) uma vez escreveu que preferia a burocracia italiana (terceiro-mundista) à britânica, pois sempre se podia subornar um empregado italiano para fazer algo, enquanto na Grã-Bretanha alguém seria preso por sugerir isso. Vou ainda mais longe: nenhum italiano, brasileiro, indiano, cambojano, ucraniano, persa ou namibiano jamais considerará a possibilidade de que obedecer a alguma lei tola seja moralmente exigido dele. Nenhum de nós confundiria o Estado com a sociedade organizada, ou mesmo consideraria a possibilidade ridícula de que alguém precisaria de alguma forma ter uma “licença” emitida pelo governo para cortar cabelo, pescar seu alimento, ou o que quer que seja.
Em terras menos civilizadas, porém, que cedo foram vítimas da Modernidade e cujas populações engoliram totalmente o pensamento moderno, esses são erros comuns. A única alternativa parece ser abraçar o anarquismo, e junto com ele toda a panóplia de supostas alternativas ideologicamente derivadas ao Estado Moderno. Eu entendo as pessoas pobres que caem nessa. Eu provavelmente faria também, se esse fosse o único Estado que eu conhecesse. É apenas outra forma – talvez a mais forte até agora – de tirania, aquele velho inimigo do homem.
Artigo original aqui














