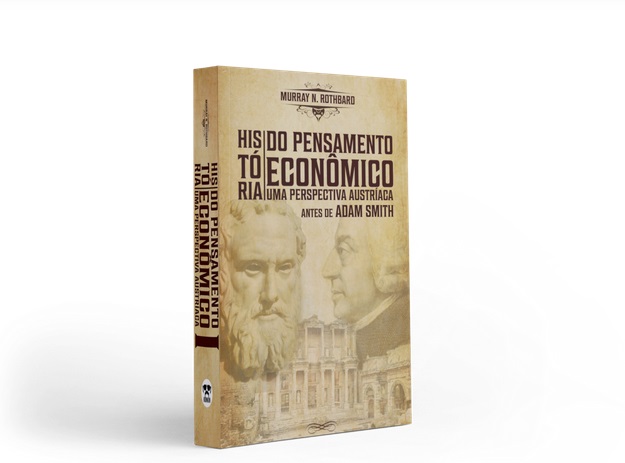 [A Editora Konkin acaba de traduzir e publicar o livro de Murray Rothbard História do Pensamento Econômico – Uma Perspectiva Austríaca – Antes de Adam Smith, disponível on-line]
[A Editora Konkin acaba de traduzir e publicar o livro de Murray Rothbard História do Pensamento Econômico – Uma Perspectiva Austríaca – Antes de Adam Smith, disponível on-line]
Como o subtítulo declara, esta obra é uma história geral do pensamento econômico de um ponto de vista francamente “austríaco”: isto é, do ponto de vista de um adepto da “Escola Austríaca” de economia. Este é o único trabalho desse tipo por um austríaco moderno; na verdade, apenas algumas monografias em áreas especializadas da história do pensamento foram publicadas pelos austríacos nas últimas décadas.[1] Não só isso: essa perspectiva é baseada no que é atualmente a variante menos elegante, embora não menos numerosa, da Escola Austríaca: a “misesiana” ou “praxeológica”.[2]
Mas a natureza austríaca dessa obra dificilmente é sua única singularidade. Quando o presente autor começou a estudar economia na década de 1940, havia um paradigma esmagadoramente dominante na abordagem da história do pensamento econômico – um paradigma que ainda é primordial, embora não tão descaradamente como naquela época. Essencialmente, esse paradigma apresenta alguns Grandes Homens como a essência da história do pensamento econômico, com Adam Smith como o fundador quase sobre-humano.
Mas se Smith foi o criador tanto da análise econômica quanto da tradição de livre comércio, de livre mercado na economia política, seria trivial e mesquinho questionar seriamente qualquer aspecto de sua suposta realização. Qualquer crítica severa a Smith como economista ou defensor do livre mercado pareceria apenas anacrônica: desprezar o fundador pioneiro a partir de um conhecimento superior de hoje, descendentes insignificantes esmagando injustamente os gigantes em cujos ombros estamos.
Se Adam Smith criou a economia, assim como Atenas nasceu adulta e totalmente armada da testa de Zeus, então seus predecessores devem ser fracassados, homenzinhos sem importância. E assim, pouca atenção foi dada, nesses retratos clássicos do pensamento econômico, a qualquer um que teve o azar de preceder Smith. Geralmente eram agrupados em duas categorias e rejeitados bruscamente.
Imediatamente antes de Smith, estavam os mercantilistas, a quem ele criticou fortemente. Os mercantilistas eram aparentemente idiotas que insistiam para que as pessoas acumulassem dinheiro, mas não o gastassem, ou insistiam que a balança comercial devesse “equilibrar-se” com cada país.
Os escolásticos foram rejeitados ainda mais rudemente, como ignorantes moralistas medievais que viviam alertando que o preço “justo” deve cobrir o custo de produção do comerciante mais um lucro razoável.
As obras clássicas da história do pensamento das décadas de 1930 e 1940 passaram a expor e principalmente a celebrar algumas figuras destacadas depois de Smith. Ricardo sistematizou Smith e dominou a economia até a década de 1887; em seguida, os “marginalistas”, Jevons, Menger e Walras, corrigiram marginalmente a “economia clássica” de Smith-Ricardo ao enfatizar a importância da unidade marginal em comparação com classes inteiras de bens.
Em seguida, coube a Alfred Marshall, que sabiamente integrou a teoria do custo ricardiana com a ênfase supostamente unilateral austro-jevoniana na demanda e na utilidade, para criar a economia neoclássica moderna. Karl Marx dificilmente poderia ser ignorado, por isso foi tratado em um capítulo como um ricardiano anormal.
E assim o historiador poderia polir sua história lidando com quatro ou cinco Grandes Figuras, cada uma das quais, com exceção de Marx, contribuiu com mais blocos de construção para o progresso ininterrupto da ciência econômica, essencialmente uma história de sempre em direção a um maior entendimento.[3]
Nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, Keynes, é claro, foi adicionado ao Panteão, proporcionando um novo capítulo culminante no progresso e desenvolvimento da ciência. Keynes, querido aluno do grande Marshall, percebeu que o velho havia deixado de lado o que mais tarde seria chamado de “macroeconomia” em sua ênfase exclusiva no micro.
E assim Keynes acrescentou macro, concentrando-se no estudo e explicação do desemprego, um fenômeno que todos antes de Keynes haviam inexplicavelmente deixado de fora do quadro econômico, ou convenientemente varrido para debaixo do tapete alegremente “assumindo pleno emprego”.
Desde então, o paradigma dominante foi amplamente sustentado, embora as coisas tenham recentemente se tornado um tanto nebulosas. Por um lado, esse tipo de história sempre ascendente do Grande Homem requer novos capítulos finais ocasionais. A Teoria Geral de Keynes, publicada em 1936, está agora com quase 60 anos; certamente deve haver um Grande Homem para o capítulo final? Mas quem? Por um tempo, Schumpeter, com sua ênfase moderna e aparentemente realista na “inovação”, teve um destaque, mas essa tendência veio a piorar, talvez ao perceber que o trabalho fundamental de Schumpeter (ou “visão”, como ele próprio definiu perceptivelmente) foi escrito mais de duas décadas antes da Teoria Geral.
Os anos desde a década de 1950 foram turvos; e é difícil forçar um retorno aos Walras, antes esquecidos, ao leito de Procusto do progresso contínuo.
Minha própria visão da grave deficiência da abordagem de Poucos Grandes Homens foi grandemente influenciada pelo trabalho de dois esplêndidos historiadores do pensamento. Um é meu o próprio mentor de dissertação Joseph Dorfman, cujo inigualável trabalho em vários volumes sobre a história do pensamento econômico americano demonstrou conclusivamente o quão importantes são as figuras supostamente “menores” em qualquer movimento de ideias. Em primeiro lugar, o conteúdo da história é deixado de lado pela omissão dessas figuras, e a história é, portanto, falsificada pela seleção e preocupação com alguns textos dispersos para constituir A História do Pensamento.
Em segundo lugar, um grande número de figuras supostamente secundárias contribuiu muito para o desenvolvimento do pensamento, em alguns aspectos mais do que os poucos pensadores de ponta. Consequentemente, características importantes do pensamento econômico são omitidas, e a teoria desenvolvida torna-se mesquinha e estéril, assim como sem vida.
Além disso, o estimulante e o desafiador da própria história, o contexto das ideias e movimentos, como as pessoas se influenciaram e como reagiram umas às outras, são necessariamente deixados de fora da abordagem de Poucos Grandes Homens. Este aspecto do trabalho do historiador foi particularmente lembrado por Quentin Skinner em dois volumes, Foundations of Modern Political Thought, cujo significado poderia ser apreciado sem a adoção da metodologia behaviorista do próprio Skinner.[4]
O progresso contínuo, a abordagem ascendente e progressiva foi demolido para mim, e deveria ter sido para todos, pelo famoso A Estrutura das revoluções científicas, de Thomas Kuhn.[5] Kuhn não deu atenção à economia, mas, em vez disso, à maneira padrão dos filósofos e historiadores da ciência, focado em ciências inelutavelmente “duras” como física, química e astronomia.
Trazendo a palavra “paradigma” para o discurso intelectual, Kuhn demoliu o que gosto de chamar de “teoria Whig da história da ciência”. A teoria Whig, subscrita por quase todos os historiadores da ciência, incluindo a economia, é que o pensamento científico progride pacientemente, um ano após o outro, desenvolvendo, peneirando e testando teorias, de modo que a ciência avance e avance para cima, a cada ano, década ou geração aprendendo mais e possuindo teorias científicas cada vez mais corretas.
Em analogia com a teoria Whig da história, cunhada na Inglaterra de meados do século XIX, que sustentava que as coisas estão sempre ficando (e, portanto, devem ficar) cada vez melhor, o historiador Whig da ciência, aparentemente em terreno mais firme do que o historiador Whig regular, implícita ou explicitamente afirma que “o posterior é sempre melhor” em qualquer disciplina científica particular. O historiador Whig (seja da ciência ou da história propriamente dita) realmente sustenta que, para qualquer ponto do tempo histórico, “tudo o que era, estava certo”, ou pelo menos era melhor do que “tudo o que era anterior”.
O resultado inevitável é um otimismo panglossiano complacente e enfurecedor. Na historiografia do pensamento econômico, a consequência é a posição firme, embora implícita, de que todo economista individual, ou pelo menos toda escola de economistas, contribuiu com sua contribuição importante para a marcha inexorável para cima. Não pode haver, então, erro sistêmico grosseiro que prejudique profundamente, ou mesmo invalide, uma escola inteira de pensamento econômico, muito menos desvie o mundo da economia de seu rumo para sempre.
Kuhn, no entanto, chocou o mundo filosófico ao demonstrar que simplesmente não é assim que a ciência se desenvolveu. Uma vez que um paradigma central é selecionado, não há teste ou verificação, e os testes de suposições básicas só acontecem depois que uma série de falhas e anomalias no paradigma dominante mergulham a ciência em uma “situação de crise”. Não é necessário adotar a perspectiva filosófica niilista de Kuhn, sua implicação de que nenhum paradigma é ou pode ser melhor do que outro, para perceber que sua visão, que considera a ciência não tão brilhante, soa verdadeira tanto como história quanto como sociologia.
Mas se a visão romântica ou panglossiana padrão não funciona mesmo nas ciências exatas, a fortiori deve estar totalmente errada em uma ‘ciência suave’ como a economia, em uma disciplina onde não pode haver testes de laboratório e onde numerosas disciplinas ainda mais suaves, como política, religião e ética, necessariamente interferem na perspectiva econômica de uma pessoa.
Portanto, não pode haver qualquer presunção na economia de que o pensamento posterior é melhor do que o anterior, ou mesmo que todos os economistas conhecidos contribuíram com sua parte para o desenvolvimento da disciplina. Pois torna-se muito provável que, em vez de todos contribuírem para um edifício em constante progresso, a economia pode e tem procedido de forma contenciosa, até mesmo em zigue-zague, com a falácia sistêmica posterior às vezes esquivando-se de paradigmas anteriores, mas mais sólidos, redirecionando assim o pensamento econômico para um ponto totalmente errôneo ou mesmo caminho trágico. O caminho geral da economia pode ser para cima ou para baixo em qualquer período de tempo.
Nos últimos anos, a economia, sob a influência dominante do formalismo, do positivismo e da econometria, e alardeando-se por ser uma ciência dura, mostrou pouco interesse por seu próprio passado. Tem sido intencional, como em qualquer ciência “real”, no último livro-texto ou artigo de revista acadêmica, em vez de em explorar sua própria história. Afinal, será que os físicos contemporâneos passam muito tempo estudando a ótica do século XVIII?
Nas últimas duas décadas, entretanto, o paradigma formalista neoclássico walrasiano-keynesiano reinante foi questionado cada vez mais, e uma verdadeira “situação de crise” kuhniana se desenvolveu em várias áreas da economia, incluindo a preocupação com sua metodologia. Em meio a essa situação, o estudo da história do pensamento teve um retorno significativo, que esperamos que se expandirá nos próximos anos.[6]
Pois, se o conhecimento enterrado em paradigmas perdidos pode desaparecer e ser esquecido com o tempo, então o estudo de economistas e escolas de pensamento mais antigos não precisa ser feito meramente como investigações de antiguidades ou para examinar como a vida intelectual procedeu no passado. Economistas anteriores podem ser estudados por suas contribuições importantes para o conhecimento esquecido e, portanto, novo hoje. Valiosas verdades podem ser aprendidas sobre o conteúdo da economia, não apenas nas revistas acadêmicas mais recentes, mas também nos textos de pensadores econômicos há muito falecidos.
Mas essas são apenas generalizações metodológicas. A percepção concreta de que importantes conhecimentos econômicos se haviam perdido com o tempo veio a mim ao absorver a grande revisão da Escolástica que se desenvolveu nas décadas de 1950 e 1960. A revisão pioneira veio dramaticamente no grande História da Análise Econômica de Schumpeter e foi desenvolvida nas obras de Raymond de Roover, Marjorie Grice-Hutchinson e John T. Noonan.
Acontece que os Escolásticos não eram simplesmente “medievais”, mas começaram no século XIII e se expandiram e floresceram durante o século XVI e no século XVII. Longe de serem moralistas do custo de produção, os Escolásticos acreditavam que o preço justo era qualquer preço estabelecido na “estimativa comum” do livre mercado. Não só isso: longe de serem teóricos ingênuos do valor do trabalho ou do custo de produção, os escolásticos podem ser considerados “proto-austríacos”, com uma sofisticada teoria de utilidade subjetiva de valor e preço.
Além disso, alguns dos Escolásticos eram muito superiores à microeconomia formalista atual no desenvolvimento de uma teoria dinâmica de empreendedorismo “proto-austríaca”. Além disso, em “macro”, os Escolásticos, começando com Buridan e culminando na Escolástica Espanhola do século XVI, elaboraram uma teoria “austríaca” em vez de monetarista de oferta e demanda de moeda e preços, incluindo fluxos de moeda inter-regionais e até mesmo uma teoria da paridade de poder de compra das taxas de câmbio.
Parece não ser por acaso que esta revisão dramática de nosso conhecimento dos Escolásticos foi trazida aos economistas americanos, geralmente não estimados por sua profundidade de conhecimento do latim, por economistas formados na Europa familiarizado com o latim, a língua em que os Escolásticos escreviam. Este simples ponto enfatiza outra razão para a perda de conhecimento no mundo moderno: a insularidade na própria língua (particularmente severa nos países de língua inglesa) que, desde a Reforma, rompeu a outrora comunidade europeia de estudiosos. Uma razão pela qual o pensamento econômico continental frequentemente exerceu influência mínima, ou pelo menos atrasada, na Inglaterra e nos Estados Unidos é simplesmente porque essas obras não foram traduzidas para o inglês.[7]
Para mim, o impacto do revisionismo Escolástico foi complementado e fortalecido pelo trabalho, durante as mesmas décadas, do historiador “austríaco” nascido na Alemanha, Emil Kauder. Kauder revelou que o pensamento econômico dominante na França e na Itália durante o século XVII e especialmente no século XVIII foi também “proto-austríaco”, enfatizando a utilidade subjetiva e a escassez relativa como determinantes do valor. A partir dessa base, Kauder procedeu a um insight surpreendente sobre o papel de Adam Smith que, no entanto, decorre diretamente de seu próprio trabalho e do dos revisionistas escolásticos: que Smith, longe de ser o fundador da economia, era virtualmente o contrário. Ao contrário, Smith realmente pegou a tradição de valor subjetivo proto-austríaca sólida, e quase totalmente desenvolvida, e tragicamente desviou a economia para um caminho falso, um beco sem saída do qual os austríacos tiveram que resgatar a economia um século depois.
Em vez de valor subjetivo, empreendedorismo e ênfase no preço de mercado real e atividade de mercado, Smith abandonou tudo isso e substituiu por uma teoria do valor trabalho e um foco dominante no equilíbrio de “preço natural” imutável de longo prazo, um mundo onde o empreendedorismo foi considerado extinto. Com Ricardo, essa infeliz mudança de foco foi intensificada e sistematizada.
Se Smith não foi o criador da teoria econômica, também não foi o fundador do laissez faire na economia política. Não eram só os escolásticos que eram analistas e defensores do livre mercado e críticos da intervenção do governo, mas os economistas franceses e italianos do século XVIII eram ainda mais orientados para o laissez-faire do que Smith, que introduziu várias trivialidades e qualificações no que fora até então, nas mãos de Turgot e outros, uma defesa quase pura do laissez faire. Na verdade, ao invés de alguém que deveria ser venerado como criador da economia moderna ou do laissez faire, Smith estava mais próximo da imagem retratada por Paul Douglas na comemoração de A Riqueza das Nações em Chicago em 1926: um precursor necessário de Karl Marx.
A contribuição de Emil Kauder não se limitou a retratar Adam Smith como o destruidor de uma tradição anteriormente sólida de teoria econômica, como o fundador de um enorme “zague” em uma imagem kuhniana de uma história em zigue-zague do pensamento econômico. Também fascinante, embora mais especulativa, foi a estimativa de Kauder da causa essencial de uma curiosa assimetria no curso do pensamento econômico em diferentes países.
Por que é, por exemplo, que a tradição da utilidade subjetiva floresceu no continente, especialmente na França e na Itália, e depois reviveu particularmente na Áustria, enquanto as teorias do trabalho e do custo de produção se desenvolveram especialmente na Grã-Bretanha? Kauder atribuiu a diferença à profunda influência da religião: os Escolásticos e, em seguida, França, Itália e Áustria eram países católicos, e o catolicismo enfatizava o consumo como o objetivo da produção e a utilidade e o gozo do consumidor como, pelo menos com moderação, atividades valiosas e metas.
A tradição britânica, ao contrário, começando com o próprio Smith, era calvinista, e refletia a ênfase calvinista no trabalho árduo e labuta não apenas como um bem, mas um grande bem em si mesmo, enquanto o prazer do consumidor é, na melhor das hipóteses, um mal necessário, um mero requisito para continuar o trabalho e a produção.
Ao ler Kauder, considerei essa visão um insight desafiador, mas essencialmente uma especulação não comprovada. No entanto, à medida que continuei estudando o pensamento econômico e comecei a escrever esses volumes, concluí que Kauder estava sendo confirmado várias vezes. Mesmo que Smith fosse um calvinista “moderado”, ele era convicto mesmo assim, e cheguei à conclusão de que a ênfase calvinista poderia explicar, por exemplo, a defesa de Smith de outra forma enigmática das leis de usura, bem como sua mudança na ênfase de o consumidor caprichoso e amante do luxo como determinante do valor, para o trabalhador virtuoso que incorpora suas horas de trabalho ao valor de seu produto material.
Mas se Smith pode ser explicado pelo calvinismo, o que dizer do judeu hispano-português que virou quacre, David Ricardo, certamente não um calvinista? Aqui, parece-me que a pesquisa recente sobre o papel dominante de James Mill como mentor de Ricardo e principal fundador do “sistema ricardiano” entra fortemente em cena. Pois Mill era um escocês ordenado ministro presbiteriano e mergulhado no calvinismo; o fato de que, mais tarde na vida, Mill se mudou para Londres e se tornou um agnóstico não teve nenhum efeito sobre a natureza calvinista das atitudes básicas de Mill em relação à vida e ao mundo. A enorme energia evangélica de Mill, sua cruzada pelo aprimoramento social e sua devoção ao trabalho árduo (bem como a virtude calvinista cognata da economia) refletiram sua visão de mundo calvinista ao longo da vida. A ressurreição do ricardianismo de John Stuart Mill pode ser interpretada como sua devoção filiopietista à memória de seu pai dominante, e a banalização de Alfred Marshall dos insights austríacos em seu próprio esquema neo-ricardiano também veio de um neo-calvinista altamente moralista e evangélico.
Por outro lado, não é por acaso que a Escola Austríaca, grande desafio à visão Smith-Ricardo, surgiu em um país que não era apenas solidamente católico, mas cujos valores e atitudes ainda eram fortemente influenciados pelo pensamento aristotélico e tomista. Os precursores alemães da Escola Austríaca floresceram, não na Prússia protestante e anticatólica, mas nos estados alemães que eram católicos ou politicamente aliados da Áustria em vez da Prússia.
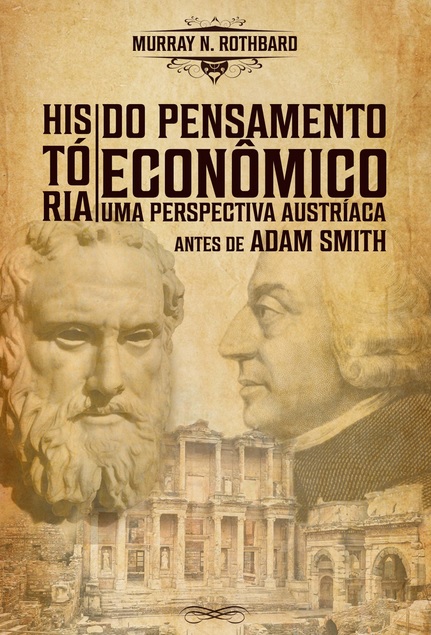 O resultado dessas pesquisas foi minha convicção crescente de que deixar de fora a perspectiva religiosa, bem como a filosofia social e política, distorceria desastrosamente qualquer quadro da história do pensamento econômico. Isso é bastante óbvio para os séculos anteriores ao século XIX, mas também é verdade para aquele século, mesmo que o aparato técnico ganhe vida própria.
O resultado dessas pesquisas foi minha convicção crescente de que deixar de fora a perspectiva religiosa, bem como a filosofia social e política, distorceria desastrosamente qualquer quadro da história do pensamento econômico. Isso é bastante óbvio para os séculos anteriores ao século XIX, mas também é verdade para aquele século, mesmo que o aparato técnico ganhe vida própria.
Em consequência dessas percepções, esses volumes são muito diferentes da norma, e não apenas por apresentarem uma perspectiva austríaca, em vez de neoclássica ou institucionalista.
A obra inteira é muito mais longa do que a maioria, pois insiste em trazer todas as figuras “menores” e suas interações, bem como enfatizar a importância de suas filosofias religiosas e sociais, bem como de suas visões mais limitadas e estritamente “econômicas”. Mas espero que a extensão e a inclusão de outros elementos não tornem este trabalho menos legível. Pelo contrário, história significa necessariamente narrativa, discussão de pessoas reais, bem como de suas teorias abstratas, e inclui triunfos, tragédias e conflitos, conflitos que muitas vezes são morais, bem como puramente teóricos. Portanto, espero que, para o leitor, a extensão incomum seja compensada pela inclusão de muito mais drama humano do que normalmente é oferecido nas histórias do pensamento econômico.
Artigo original aqui
____________________________
Notas
[1] A valiosa e monumental História da Análise Econômica de Joseph Schumpeter (Nova York: Oxford University Press, 1954), às vezes é chamada de “austríaca”. Mas ao passo que Schumpeter foi criado na Áustria e estudou com o grande austríaco Böhm-Bawerk, ele próprio foi um walrasiano dedicado, e sua história foi, além disso, eclética e idiossincrática.
[2] Para uma explicação dos três principais paradigmas austríacos na atualidade, consulte Murray N. Rothbard, The Present State of Austrian Economics (Auburn, Ala .: Ludwig von Mises Institute, 1992).
[3] Quando o presente autor se preparava para o doutorado na Universidade de Columbia, tinha o venerável John Maurice Clark como examinador na história do pensamento econômico. Quando perguntou a Clark se ele deveria ler Jevons, Clark respondeu, um tanto surpreso: “Qual é o ponto? O que há de bom em Jevons está todo em Marshall.”
[4] Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civilization (5 vols, New York: Viking Press, 1946-59); Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought (2 vols, Cambridge: Cambridge University Press, 1978).
[5] Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1962, 2ª ed., Chicago: University of Chicago Press, 1970).
[6] A atenção dedicada nos últimos anos a uma crítica brilhante do formalismo neoclássico como totalmente dependente da mecânica obsoleta de meados do século XIX é um sinal bem-vindo dessa recente mudança de atitude. Ver Philip Mirowski, More Heat than Light (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
[7] Atualmente, quando o inglês se tornou a lingua franca europeia e a maioria dos periódicos europeus publica artigos em inglês, esse dilema foi minimizado.













