Versão atualizada em maio de 2025

Estima-se que o humano anatomicamente moderno habita este mundo há 300 mil anos e deu início a modernidade comportamental há 50 mil anos, mas somente os últimos 5 mil anos da história humana são conhecidos através da escrita. Durante grande parte deste período registrado, a região da Palestina foi palco de conflitos territoriais sendo sucessivamente ocupada por cineus, ceneseus, cadmoneus, heteus, ferezeus, rafaim, amorreus, cananeus, gergeseus, jebuseus, filisteus, egípcios, hebreus, assírios, babilônicos, persas aquemênidas, gregos/macedônios, romanos, bizantinos, persas sassânidas, árabes, cruzados europeus, mamelucos, otomanos, franceses, britânicos e sionistas europeus. Após milênios de disputas por terra, estes últimos ocupantes têm instigado um outro tipo de conflito, desta vez dentro do Libertarianismo, que também atingiu proporções bíblicas. Aparentemente há uma quase unanimidade entre os grandes nomes do Libertarianismo, do presente e do passado, que concordam que os sionistas são invasores e os árabes palestinos são vítimas desapropriadas. Mas fora desta “quase” unanimidade estão duas vozes estridentes que pensam o contrário. Uma é o professor Walter Block, um dos principais intelectuais libertários da história, que tem defendido os sionistas na grande mídia, em um livro e em altercações com outros grandes intelectuais libertários (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui). A outra é o primeiro autoproclamado anarcocapitalista a ser eleito chefe de estado, Javier Milei, que pode não estar entre os maiores intelectuais libertários, mas é o que mais está sob os holofotes dos grandes meios de comunicação, e suas declarações pro-sionistas chegam ao grande público global.
Dado o peso dessas vozes dissonantes, vale a pena reconsiderar a questão: se os judeus são os verdadeiros proprietários da terra de Israel, como alegam Block e Milei, o conflito contra os árabes palestinos é uma guerra justa de defesa. Block e Milei também alegam que a forma como a guerra está sendo conduzida pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) é a melhor forma de defesa possível, onde nenhum excesso é cometido e todas as casualidades de civis são danos colaterais inevitáveis neste tipo de guerra. Se estes dois casos isolados estiverem certos, todos os outros libertários – que em uníssono condenam Israel – estão errados. De acordo com os sionistas, os judeus foram expulsos de Israel à força e atualmente, séculos depois, estão apenas retomando o que é seu de direito. Seriam então os judeus, como um povo, os legítimos proprietários do território palestino?
A aquisição da terra
A alegada reivindicação de propriedade mais antiga vem de quando o habiru Abraão migra para a cidade de Hebron, localizada na terra de Canaã, que Deus havia prometido para sua descendência. Ali estabelecido, Abraão compra do hitita Efrom por 400 siclos (aproximadamente 4,5 kg) de prata a caverna Macpela para sepultar sua esposa Sara. De acordo com a narrativa da Bíblia, Jacó, o neto de Abraão, é renomeado Israel e tem doze filhos, que viriam a formar as Doze Tribos de Israel. Estes agora chamados israelitas acabam sendo escravizados no Egito, mas não todos eles; alguns continuaram habitando Canaã – a cidade de Salem, por exemplo segue em posse de israelitas. Os escravos israelitas se tornaram muito numerosos, preocupando o faraó, até que o grande legislador Moisés liderou uma revolta e os libertou, conduzindo-os de volta à Terra Prometida, que estava habitada por outros povos e teve que ser conquistada à força. Assim teria se dado a reconquista:
“De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo que havia dentro dela: homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos.” (JOSUÉ 6:20-21)
Este genocídio está longe de cumprir os pré-requisitos da ética libertária para aquisição de propriedade. Embora a arqueologia indique que este e outros relatos da Bíblia nunca ocorreram, mesmo assim eles serviram como mito fundador da nação e são usados hoje em dia para motivar e justificar atrocidades sionistas[1]. Diversas passagens da Bíblia indicam que os israelitas se sentiam culpados por roubar a terra dos canaanitas. Não obstante, por quatro séculos os conquistadores israelitas viveriam em um sistema com características libertárias, sob a autoridade de Juízes, que governariam baseados nas leis divinas, ou seja, uma teocracia. Em seu História dos Judeus, Paul Johnson destaca que,
“A tradição israelita, já fortemente arraigada, de igualdade, de discussão comunitária, de debate e argumentação acrimoniosos, tornava-os hostis à ideia de um estado centralizado, com pesados impostos a pagar por um exército permanente Preferiam recrutar soldados nas tribos para servirem sem pagamento. … Os ‘juízes’ não eram governantes nacionais, que se sucediam no poder. Normalmente, cada um deles dirigia apenas uma tribo, e alguns podem ter sido contemporâneos entre si.”
O Reino de Israel
Durante este período, os israelitas se envolveram em diversos conflitos com outros povos e conflitos internos entre as tribos de Israel, que só foram se unir diante da ameaça de um poderoso inimigo, os filisteus, que quase chegaram a dominar o Egito. Mesmo assim, eles somente aceitariam mudar do sistema descentralizado de Juízes para uma monarquia por intermédio da antiga instituição da profecia. Johnson relata: “[O profeta] Samuel relembrou ao povo que eles nunca tinham tido um rei – uma função dos profetas era transmitir a história ao povo – e que, sendo uma teocracia, Israel não poderia escolher um rei sem rejeitar o governo de Deus e assim pecar.” E a profecia de Samuel foi um preciso e verdadeiro alerta libertário:
“Isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. … Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. … Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará um décimo dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês um décimo dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá.” (1 SAMUEL 8:11-18)
O primeiro rei foi um fracasso. Saul e seu filho Jônatas são derrotados e mortos pelos filisteus. “Davi então se torna rei de Judá, e após o assassinato de Ichbal, o sucessor de Saul no reino de Israel, os anciãos oferecem a Davi o trono. Após tomar Jerusalém dos jebusistas, coisa que os israelitas não haviam sido capazes de fazer em 200 anos, uniu o norte e o sul e a tornou a capital nacional e religiosa de Israel.” Tem-se início a Era de Ouro de Israel, com o domínio sobre a terra que fora prometida a descendência de Abraão. Esta era, que é usada como modelo pelos sionistas modernos em sua tentativa de reconstruir Israel, durou apenas duas gerações.[2] Davi foi sucedido por Salomão, que foi sucedido por Roboão, que “não conseguiu manter os reinos unidos, e o norte se separou do sul. … numa idade de impérios em ascensão – o babilônio seguido pelo assírio – esses pequenos reinos, Judá ao sul, e Israel ao norte, seguiram separados para o seu destino.” Mesmo se considerarmos que os israelitas habitantes do reino unificado fossem todos descendentes de Abraão, teriam os judeus modernos mantido essa hereditariedade ao não se casarem com estrangeiros? Essa teoria sionista já cai por terra logo com Salomão, que “amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. … Casou com setecentas princesas e trezentas concubinas”. (1 REIS 11:1-3)
Primeiras diásporas
Estes reinos divididos de raças misturadas não puderam resistir a expansão do império assírio; Sargon II destruiu o reino setentrional, removendo toda a elite e enviando colonos, naquilo que seria considerada a Primeira Diáspora, quando também 10 tribos israelitas desapareceram para sempre. No entanto, conforme Sargon II relata nos Anais de Khorsabad, ele levou consigo apenas 27.290 das pessoas que ali habitavam. Na Samaria, permaneceram camponeses e artesãos israelitas que se casaram com os novos colonos. Uma Segunda Diáspora ocorreu 135 anos depois, após a queda do império assírio e a ascensão da Babilônia como a nova potência. O reino de Judá foi derrotado, Jerusalém foi destruída e israelitas voltaram a ser exilados; mas, novamente, as pessoas pobres permaneceram e algumas cidades, como Gibeão, Mizpah e Betel não foram tocadas. Foi no exílio, privados de um estado, que as práticas judaicas mais se desenvolveram, também como forma de distingui-los dos pagãos que os rodeavam. Jeremias, o primeiro judeu, dizia que “a destruição do reino não importava. Israel ainda era o povo eleito por Deus. Podia executar a missão que lhe fora atribuída por Deus tão bem no exílio e na dispersão quanto dentro dos limites de sua pequena nação-estado.” Quando a aliança de persas e medos liderada por Ciro sucedeu o império babilônio, os judeus exilados puderam retornar, mas a maioria escolheu permanecer na Babilônia. Os que preferiram voltar passaram pelas mesmas dificuldades que passariam os sionistas do século XX. Johnson explica que
“Apesar da ordem e do apoio de Ciro, o primeiro regresso em 538 a.C. … foi um fracasso, pois os judeus pobres, que haviam sido deixados para trás, os am ha-aretz, resistiram a ele, e em conjunto com os samaritanos, os edomitas e os árabes impediram os colonos de construir muralhas. … após 4 grandes esforços, foi só 93 anos depois, com Neemias em 445 a.C., que a colônia conseguiu se estabilizar e Jerusalém começou a ser reconstruída, não sem a resistência de árabes, amonitas e outros residentes locais: os judeus tinham que ir trabalhar na edificação das muralhas com suas espadas na cinta.”
Os judeus viveriam em paz sob os persas, que permitiam livre prática religiosa em todo seu império, até que ele foi destruído por Alexandre, o Grande em 332 a.C. As conquistas macedônias eram acompanhadas da helenização, que afetou assustadoramente a cultura judaica, gerando uma disputa entre judeus reformistas e rigoristas que culminou com revoltas de 166-152 a.C. e a expulsão dos gregos – o que não eliminou o helenismo, mas apenas o politeísmo. O poderio grego seria substituído pelo romano, pressagiando novamente uma conjuntura dos sionistas modernos. Segundo Johnson:
“Aliando-se ao império romano em ascensão, os asmoneus assumiram o poder. Eles eram como os futuros sionistas, e se viram imbuídos da tarefa de reviver o Livro de Josué e reconquistar toda a Palestina para o povo eleito. Seus exércitos destruíram cidades e massacraram populações urbanas cujo único crime consistia em serem de língua grega. A província de Idumeia foi conquistada e os habitantes de suas duas principais cidades, Adora e Marisa, foram forçados a converter-se ao judaísmo ou mortos, se se recusassem. … No final, os governantes asmoneus se tornaram tiranos que assassinaram milhares de judeus devotos que se opuseram a eles. … Foi se aproveitando de divisões internas deste reino despótico sanguinário que Roma tornou a Judéia um estado-cliente em 63 a.C. e foi sob Roma, com o reinado de Herodes, o Grande, que Israel viveu um novo apogeu.”
Novamente observamos um domínio territorial agressor sem qualquer tipo de legitimidade libertária. Israel viveria sua época de maior esplendor, com a construção do segundo templo, de palácios, fortalezas, o Túmulo dos Patriarcas em Hebron, portos, infraestrutura e fundação de novas cidades. Todavia, os judeus se dividiam em diversas seitas como saduceus, fariseus, zelotas e essênios. Uma comunidade essênia, os batistas, estava se desenvolvendo em uma seita universalista que internalizaria o helenismo e predominaria sobre todas as outras, o Cristianismo. Mas foram os zelotas que lideraram a primeira revolta contra Roma que resultou na tomada de Jerusalém e na destruição do templo que nunca mais foi reconstruído e terminou com a tomada da fortaleza de Massada em 74. No entanto, as tensões irreconciliáveis entre o judaísmo e a cultura grega continuaram, até que 60 anos depois outra grande revolta contra Roma eclode. Neste ponto, os judeus consistiam 10% da população do Império Romano e foram liderados pelo príncipe Simão bar Koziva, que o rabino mais erudito da época, Akiva bem José, reconheceu como Messias e o renomeou Barcoquebas. Os judeus impuseram uma resistência feroz, infligindo pesadas perdas aos romanos, que precisaram deslocar nada menos que 12 legiões para finalmente derrota-los em 135. Seria outro Messias judeu – predito principalmente pelo profeta Isaías – Jesus Cristo, que prevaleceria sobre Roma em 313. Mas essas duas derrotas puseram um fim na história estatal judaica na Antiguidade, e é baseando-se neste evento que os sionistas políticos primeiro reivindicariam o território para o povo judeu, que teria sido expulso à força pelos romanos e teria o direito legítimo de retornar dezessete séculos depois. Destarte, existe alguma justificativa libertária para esta reivindicação? O povo judeu seria o proprietário legítimo da Palestina? E, ainda mais importante, existe um “povo judeu”?
Expulsão?
Se um grupo de pessoas é coercitivamente expulso de sua propriedade, ele continua sendo o proprietário legítimo e tem o direito de retornar e retomar a área. Este direito pode ser passado para seus descendentes, e a ilegitimidade dos ocupantes ilegais também é passada para os descendentes deles ou aos ocupantes posteriores. Como vimos acima, a propriedade de Israel nunca foi legitimamente adquirida, e sim através de conquista agressiva de povos como os cananeus e idumeus. No entanto, pode-se alegar que os judeus possuem uma reivindicação melhor do que qualquer outra, pois cananeus e idumeus não existem mais, e os judeus alegadamente se mantiveram como um povo até hoje. O primeiro ponto a observar é que nunca houve esta expulsão. Quando Roma suprimiu a Revolta de Barcoquebas, centenas de milhares de judeus foram mortos e escravizados, mas apenas uma elite governante e sacerdotal foi forçada a deixar a região. O Império Romano não expulsava as populações das regiões conquistadas. A Palestina continuou sendo ocupada majoritariamente por judeus, que logo experimentaram uma “idade de ouro” sob a liderança de Yehuda HaNasi (135-217), um rabino compilador da Mishná e príncipe que tinha bom relacionamento com os imperadores romanos. Então o que explica a presença de judeus espalhados pelo mundo? Não foram eles exilados pelos romanos? Na verdade, antes das revoltas contra Roma, os judeus já estavam espalhados, como Johnson relata:
“O geógrafo romano Strabão disse que os judeus eram um poder em todo o mundo habitado. Havia milhões deles apenas no Egito. Em Alexandria, talvez a maior cidade do mundo depois de Roma, formavam uma maioria em dois dos cinco quarteirões. Eram numerosos em Cirene e Berenice, em Pérgamo, Mileto, Sarsis, na Apamea frigia, em Chipre, em Antióquia, em Damasco e Efeso, e nas duas margens do Mar Negro. Tinham estado em Roma por 200 anos, e formavam agora uma colônia substancial ali; e, de Roma, tinham-se espalhado por toda a Itália urbana, e, depois, até a Gália e a Espanha e, através do mar, até o noroeste da África.”
Proselitismo judaico
No ano 59 a.C. Cícero já se queixava do grande número de judeus em Roma. Eles também estavam presentes no país dos partas, à leste. Isso se devia a duas principais razões. A primeira é a imigração. Do mesmo modo que hoje em dia milhões de pessoas imigram para outros países em busca de melhores oportunidades, muitos judeus se mudaram de Israel para outras partes do mundo antigo, principalmente para as grandes cidades – essa tendência urbana judaica prevaleceu por todos os tempos. A segunda é a conversão. A ideia do monoteísmo ético era muito sedutora para os pagãos, o que dava força ao proselitismo judaico. A Septuaginta, a tradução da Torá para o grego, deu ainda mais impulso as conversões. Nos primeiros séculos de nossa era, surgiu um concorrente no mercado monoteísta, o Cristianismo, mas como ele era proibido e perseguido no Império Romano, o judaísmo tinha vantagem. Sendo uma religião reconhecida legalmente pela lei romana, o Norte da África e todo o Mediterrâneo experimentaram uma conversão em massa ao judaísmo. Ocorriam conversões entre todas as classes sociais, inclusive entidades políticas foram convertidas, como reino de Adiabena, atual norte do Iraque. O termo judeu deixou de significar “habitante da Judeia” e passou a designar todos os convertidos ao judaísmo e seus descendentes. Estes fatos refutam a alegação sionista do exílio forçado de um povo, tanto pelo lado de não ter havido uma expulsão quanto pelo lado de os judeus não constituírem um povo, mas uma religião. De fato, conversões em massa trouxeram DNA que não fazia parte do pool genético original na terra de Abraão. Orígenes de Alexandria, o teólogo erudito cristão que viveu nesta época constatou que “o nome ioudaios não é o nome de uma etnia, mas de uma escolha (de modo de vida).”
Quando o crescimento do Cristianismo se tornou incontrolável e este ascendeu a religião oficial do Império, o judaísmo foi jogado para a marginalidade. Outro fator que ajudou na redução do número de judeus foram suas exigências mais excessivas – como a circuncisão e as restrições alimentares – e eles foram buscar adeptos em locais onde o monoteísmo Cristão não havia chegado. Muitos na península arábica adotaram a religião judaica, incluindo um poderoso reino, Himiar, atual Iêmen. Alguns desses judeus se desenvolveram em outra seita que seguiria um bem sucedido rumo separado, o islamismo, que dominaria grande parte do mundo e jogaria o judaísmo para um distante e módico terceiro lugar em adeptos de religiões monoteístas. Durante o domínio bizantino, numerosas tribos berberes adotaram o judaísmo, que perdurou até a violenta conquista islâmica em 694 com a derrota da rainha judia Kahina. O judaísmo ainda seria a religião de um vasto império por volta do ano 800 até sua destruição em 1016, a Khazária, cuja extensão, de acordo com Sholomo Sand, em A invenção do povo judeu, “era de longe a mais vasta e mais importante que aquela de todos os reinos existentes no país da Judeia …. e as fontes externas disponíveis sobre sua história são bem mais variadas que aquelas relativas ao reino de Davi ou de Salomão.” Mas fora estes períodos, os judeus viveriam em reinos e estados dominados por outras religiões.
Portanto, falar em “povo judeu” faz tanto sentido quanto falar em “povo Cristão” ou “povo maometano”. E os praticantes da religião judaica teriam tanto direito à Eretz Israel prometida a Abraão quanto os praticantes das duas maiores religiões abraâmicas – os cristãos e os muçulmanos –, ou seja, nenhum. Os sionistas podem alegar que o judaísmo teria mais direito a Sião por ter se mantido fiel às práticas religiosas dos patriarcas, enquanto as outras seitas se diferenciaram a ponto de se desassociarem de uma corrente religiosa contínua, mas isso está longe de ser verdade. O judaísmo rabínico, com a sinagoga como sua instituição normativa, se desenvolveu a partir da seita farisaica e é muito diferente da religião praticada no antigo Israel, que era centrada no templo e no sacrifício de animais. Se existisse um direito estabelecido por semelhança, a reinvindicação de propriedade mais legítima pertenceria aos caraítas, uma seita do judaísmo que não aceita nenhuma adição pós Moisés, como o Talmude e a Mishná. Além disso, islamitas e Cristãos postulam que são eles as correntes principais e que foram os outros que se desviaram dela, perdendo assim o direito a herança de Abraão. Por exemplo, Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a Igreja primitiva sobre a herança de Israel, e em Gálatas 3, 28-29, Paulo expande a herança abraâmica a qualquer um que aceite Jesus: “Já não se distinguem judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, pois com Cristo Jesus sois todos um só. E se pertenceis a Cristo, sois descendência de Abraão, herdeiros da promessa.” De fato, Cristãos e maometanos lutaram várias guerras para controlar a região, considerada sagrada também por eles. A Caverna dos Patriarcas serve como exemplo dessa disputa. Era um local de peregrinação e foi fortificada e ornamentada pelo rei judeu Herodes, foi transformada em basílica pelos bizantinos, alterada para uma mesquita pelos árabes, voltou a ser uma igreja quando tomada pelos cruzados, Saladino fez com que voltasse a ser uma mesquita, que foi ampliada pelos mamelucos, foi restaurada pelos otomanos, e após a Guerra dos Seis Dias e a ocupação da Cisjordânia passou a ser controlada pelo Estado de Israel. Após a compra de Abraão, o domínio através da força sempre foi a regra na região, e nunca houve uma reivindicação legítima de propriedade sobre o território palestino que pudesse ser atribuída a um fictício povo judeu.
A justiça do sionismo
Apesar de não terem direito sobre a Palestina, os judeus deveriam poder ter um estado próprio. Claro que pela ética libertária nenhum estado tem o direito de existir, mas eles existem em 100% das terras do mundo e um grupo de pessoas que queira se separar dos estados existentes e formar sua própria entidade política autônoma deve ter o direito a secessão. Se esse grupo de pessoas estiver espalhado pelo mundo, eles podem se mudar para um território e ali concentrados demandar seu direito a secessão. E este era o alegado anseio sionista, que surgiu em uma época em que as identidades dos estados-nação modernos estavam se formando e ganhou força com o tratamento que os diferentes recebiam. Após perderem seus estados e perderem a batalha de conversões, os judeus se fecharam em si próprios e passaram a viver como uma minoria cercada por não-judeus.
Durante a Idade Média, na Cristandade europeia, os judeus eram considerados um problema de ordem social contaminador da verdade religiosa. Em uma época de misticismo, judeus periodicamente eram acusados de libelos de sangue que geralmente terminavam em massacres. O judaísmo não estava livre do misticismo, muito pelo contrário – era a religião mais contaminada pelo obscurantismo, principalmente com a grande difusão dos ensinamentos esotéricos da Cabala, que com sua crença em diversas deidades fez até com que o judaísmo se excluísse do monoteísmo. Por estar envolto em bruxaria e rituais mágicos, o professor Ariel Toaff, que se especializou no judaísmo medieval, acredita que as recorrentes acusações de libelos de sangue não eram falsas – como reivindica a historiografia mainstream – e as hostilidades dos cristãos contra judeus eram fundamentadas. Judeus prosperariam financeiramente com a prática da usura, que era proibida para os cristãos – e também para os judeus, mas judeus poderiam emprestar dinheiro à juros para não-judeus (gois). Como não tinham nenhuma barreira moral de explorar os gois, os judeus também prosperariam ao serem usados por príncipes e nobres como coletores de impostos e bailios de terras, oprimindo em nome deles o campesinato e os pobres. Muitas vezes este enriquecimento em funções imorais despertava ressentimentos populares que podiam resultar na expropriação e expulsão dos judeus.
Apesar da impressão inversa atual, na verdade os judeus viviam melhor sob o islamismo do que sob o Cristianismo. Sob o domínio islâmico os não-muçulmanos tinham oportunidades limitadas e precisavam pagar um imposto. Maimônides, o maior intelectual judeu da história, que chegou a ser considerado um “segundo Moisés”, escrevia em árabe e viveu sob califados islâmicos, primeiro de Al-Andaluz e, depois que fanáticos berberes tomaram o poder e impuseram “conversão ou exílio”, viveu sob os califados xiita e depois sunita que controlaram o Egito em seu tempo de vida, onde foi o médico de Saladino. Os judeus – além do hebraico que era usado somente para fins litúrgicos – desenvolveram seu próprio idioma, o iídiche, e viviam separados do resto da população, geralmente em guetos que gozavam de certa autonomia dos poderes dominantes. Antes de imigrar para os EUA, David Rothbard, o pai de Murray Rothbard, vivia em um gueto na Polônia e nem sabia falar polonês, apenas iídiche. Dentro destas comunidades judaicas semiautônomas o indivíduo estava à mercê da autoridade rabínica que controlava coercitivamente todos os aspectos da vida e aplicava com mão de ferro aos desobedientes até a pena de morte. O professor Israel Shahak relata que o ato de libertação veio “quando o estado moderno nasceu, [e] a comunidade Judaica perdeu os seus poderes de punir ou intimidar o Judeu individual. Os liames de uma das mais fechadas das ‘sociedades fechadas’, uma das sociedades mais totalitárias em toda a história da humanidade tinham sido quebrados.”
Após a Revolução Francesa e o declínio geral do poder religioso, os judeus – que, libertos, também passaram a abandonar a religião – começaram a vislumbrar o fim da condição de cidadãos de segunda classe nas nações em que viviam e o início de uma igualdade perante a lei. Isto se mostrou uma ilusão a luz dos grandes pogroms russos de 1881-2 e do caso Dreyfus de 1894 na iluminista França. Foi durante sua cobertura da injustiça sofrida pelo capitão judeu Alfred Dreyfus e influenciado pelo romance Daniel Deronda, que o jornalista judeu austro-húngaro Theodor Herzl teve a inspiração para dar início ao movimento sionista moderno. Em 1885 ele publicou o livro Der Judenstaat [O Estado judeu], propondo que os judeus do mundo se agrupassem em um território e estabelecessem um estado próprio, onde não seriam mais uma minoria sujeita aos desmandos da maioria – uma demanda legítima; ele escreveu: “Se, pelo menos, pudessem nos deixar em paz … Mas eu não acredito que o farão.” Herzl sugeriu a formação de um congresso sionista para debater ações práticas para a criação de um estado judeu, ideia esta que foi logo posta em prática com a realização do primeiro congresso sionista em 1897, na Suíça. A primeira dificuldade foi especificar quem seria judeu: seriam os praticantes do judaísmo?, seriam uma etnia? O próprio Herzl ficou espantado diante da sugestão que judeus seriam uma raça quando o escritor judeo-britânico Israel Zangwill, conhecido por sua feiura, considerou que ambos tinham a mesma origem. Mas essa ideia etnocentrista foi avançada por outros sionistas, como Max Nordau, que acreditava que “os judeus constituíam claramente um povo de origem biológica homogênea”. O quesito religioso também não era satisfatório, dada a grande quantidade de judeus ateus ou não praticantes da religião que engrossavam as fileiras do sionismo. Mas para o movimento avançar era preciso criar uma identidade comum, e essa tarefa foi desempenhada por historiadores proto-sionistas e sionistas.
A invenção do povo judeu
Quando em 1820 o historiador judeo-alemão Isaak Markus Jost publicou o primeiro volume de um total de nove de sua História dos israelitas do tempo dos macabeus aos nossos dias, ele considerou que “os judeus possuíam talvez uma origem comum, mas as comunidades judaicas não eram membros separados de um povo específico. Sua cultura e seu modo de vida variavam totalmente segundo os lugares, e apenas uma crença particular em Deus os reunia e vinculava. Não existia supraentidade judaica política que separasse os judeus dos não judeus”. (SAND, 2008). Mas foi um crítico da abordagem de Jost, Heinrich Graetz com o seu A história dos judeus dos tempos antigos ao presente, cujos primeiros volumes foram publicados em 1850, que inventou o conceito do “povo” etnorreligioso judeu, que possuía uma existência contínua confirmada pelos relatos bíblicos até a vida contemporânea no exílio. Graetz não era sionista, não defendia a criação de uma pátria judaica, mas incluiu a narrativa do exílio em sua obra. A reivindicação sionista do retorno à Israel de um povo exilado foi baseada em um mito criado e espalhado dentro do Cristianismo. O exílio teria sido uma punição divina aos judeus que ao invés de aceitarem a graça redentora do Messias enviado – de acordo com as profecias – por Deus o crucificaram. Em 1862, com a publicação da obra Roma e Jerusalém por Moses Hess, a ideia sionista de Theodor Herzl foi antecipada. Hess foi o precursor tanto do sionismo quanto do comunismo, como Douglas North notou em O Marx que ninguém conhece. Inspirado pelas pseudociências racistas que proliferavam em sua época de ascensão do nacionalismo, Hess concebeu os judeus como uma raça, que preserva sua pureza desde o Egito Antigo graças a sua fé, e estava destinada a imigrar de volta à Terra Santa – essa concepção também seria a base da Lei de Cidadania do Reich de 14 de novembro de 1935, onde a burocracia nazista elaborou vinte e sete decretos-leis tratando da questão racial.
Os historiadores Simon Doubnov e Salo Baron estabeleceram “um discurso protonacional específico e definido: a história judaica era a de um povo que nasceu nômade em uma época muito distante e continuou a existir, de maneira milagrosa e misteriosa, ao longo da história.” (SAND, 2008) E os historiadores Yitzhak Baer e Ben-Zion Dinur consolidaram uma historiografia sionista, de uma continuidade homogênea do “povo de Israel”, sempre desejoso de retornar a pátria natal. Na ausência de indícios históricos e arqueológicos de que Roma teria expulsado os judeus, Dinur alterou a narrativa do exílio: os judeus teriam sido expulsos da Palestina após a conquista islâmica – uma data mais recente, século VII, que melhoraria a reivindicação do povo judeu à terra de Israel. Porém, esta expulsão também nunca ocorreu, como explicado adiante.
No começo do movimento sionista, a localização do novo estado judeu não estava definida; Argentina e Uganda foram alguns dos locais propostos, e, de fato, o retorno à Sião era proibido pelos mandamentos rabínicos e só deveria ocorrer no Juízo Final e através do Messias. No entanto, a Palestina foi o único local que emplacou, e os sionistas começaram a se mudar para lá e incentivar a imigração em massa dos judeus. Estava então criado o mito de que os judeus constituíam um povo, expulso ilegitimamente de sua terra, que possuía, portanto, o direito de retornar. Se a Palestina fosse “uma terra sem povo para um povo sem terra”, uma (re)apropriação original sionista seria legítima, mas o problema é que ela não era.
O problema árabe
Quando os primeiros sionistas chegaram na Palestina encontraram uma terra vastamente ocupada. A partir de 1891, o sionista espiritual Ahad Ha-‘Am destacou que “havia pouco solo não cultivado na Palestina, exceto colinas pedregosas e dunas de areia”, e advertiu que “os colonos judeus não devem, sob nenhuma circunstância, despertar a ira dos nativos por ações feias; devem encontrá-los antes no espírito amigável do respeito.” Os árabes que ali se encontravam eram em grande parte os povos locais originários, que não haviam sido expulsos nem pelos romanos no século II e nem pelos maometanos no século VII. Na verdade, a população judaense até colaborou com os conquistadores islamitas para se livrarem da opressão muito maior que sofriam dos cristãos bizantinos. Sob o Califado Omíada, para não pagar a jizia, o imposto para minorias religiosas, muitos judeus se converteram ao islamismo – uma religião próxima que se originou como uma vertente do judaísmo. O sionista marxista Dov Ber Borochov considerava os palestinos como parte da raça judaica. De fato, a genética parece comprovar essa ascendência, sugerindo que os palestinos são os mais geneticamente próximos dos antigos israelitas. Os dois principais discípulos de Borochov, David Ben-Gurion e Yitzhak Ben Zvi – futuros fundadores do Estado de Israel – acreditavam que árabes palestinos iriam “voltar ao judaísmo” quando se deparassem com sua “cultura superior”, sendo assim integrados à nova nação. No entanto, os palestinos – muçulmanos e cristão – se mostraram muito mais apegados as suas tradições do que a esquerda sionista imaginava. Finalmente, com a revolta árabe de 1929 Ben-Gurion abandonou sua expectativa de integração e entrou em uma disputa territorial com os palestinos.
De início, os imigrantes judeus vindos da Europa compravam as terras dos árabes, que passaram a cobrar cada vez mais caro por elas. A compra majoritariamente ilegítima (após o domínio otomano muitos títulos estavam nas mãos de estrangeiros que nunca haviam pisado na Palestina) de terras foi impulsionada pelo barão Edmond de Rothschild, que em 1924 adquiriu 125.000 acres, onde implantou diversas comunidades e ajudou a promover a iniciativa comunista do kibutz. Mas esta via teoricamente legítima de aquisição de terra estava se mostrando muito ineficiente para a pretensão sionista de formar um estado judeu, pretensão está que passou a ser cada vez mais conhecida pelos árabes, suscitando conflitos inevitáveis. Criada em 1920, a Haganá – um grupo paramilitar que sob o comando de Ben-Gurion se transformaria em um verdadeiro exército e daria origem as Forças de Defesa de Israel – passou a proteger os sionistas e intimidar os palestinos. Ao lado de duas outras milícias, o Irgun e a Gangue Stern, a Haganá empreenderia uma campanha de terror, a Nakba, visando a limpeza étnica dos palestinos da Terra Prometida. O mais notório ato dessa campanha foi o ataque ao vilarejo Deir Yassin, onde mais de uma centena de civis desarmados, incluindo crianças, mulheres e idosos, foram massacrados pelos militares sionistas. Com a notícia da bárbara carnificina se espalhando, o objetivo foi alcançado e 750.000 palestinos fugiram aterrorizados de suas casas, cidades e fazendas.
Os sionistas também foram os inventores do terrorismo moderno, e muitos ataques terroristas foram executados contra o Império Britânico que dominava a Palestina. O maior de todos estes atos foi o atentado à bomba ao Hotel Rei Davi pelo Irgun, com a anuência da Haganá, que fez 91 vítimas fatais, sendo 28 britânicos, 41 árabes, 17 judeus e 5 outros, e feriu gravemente outras 45 pessoas. O terrorismo sionista também alcançou seu objetivo, e os britânicos entregaram o mandato da Palestina à ONU, que logo recomendaria a criação do Estado de Israel. Além de Ben-Gurion, muitos outros primeiro-ministros de Israel vieram dessas organizações terroristas, como Yitzhak Shamir, Menachem Begin, Yitzhak Rabin e Yigal Allon; todos governantes apropriados de um país formado através do terrorismo e do roubo de propriedade. A sugestão de partilha da ONU também não possui nenhuma legitimidade. Mesmo que não tivesse sido uma votação fraudada presidida pelo diplomata pro-sionismo brasileiro Oswaldo Aranha, nenhum órgão supranacional burocrático possui o direito de determinar fronteiras e formar países, sem a anuência das populações locais – que em 1948 era formada por menos de 30% de judeus, que possuíam apenas 7% das terras, a quem foram destinados 54% do território. Esta recomendação da ONU foi prontamente aceita pela minoria judaica que proclamou a fundação do Estado de Israel, claramente um ato agressivo que fez com que os árabes se unissem em uma liga e declarassem uma guerra defensiva. Ben-Gurion e outros líderes sionistas nunca tiveram a intenção de respeitar as fronteiras propostas pela ONU, que foram expandidas com a vitória nesta guerra e em outras guerras subsequentes e continuam sendo expandidas até hoje.
Os palestinos expulsos de suas propriedades emigraram para diversas partes do mundo, porém, nem todos os árabes fugiram da violência sionista; muitos permaneceram dentro dos limites do atual Israel e muitos se refugiaram na Faixa de Gaza e nas Cisjordânia, que são territórios sob o domínio de Israel, o que o transformou em um estado de apartheid, onde os palestinos de Israel são cidadãos de segunda classe. A intelectualidade moderna considera que a panaceia seria transformar Israel em uma democracia, mas os libertários sabem que democracia não é nada além de uma tirania da maioria. Israel é constituído como um Estado Judeu, e nem poderia ser diferente, pois isso é a essência do sionismo. Toda a ideia sionista se resumia em criar um estado onde os judeus fossem a maioria, e não uma minoria que pudesse ser oprimida pela maioria. A democracia seria a ruína dos judeus, como de fato constatou Yasser Arafat quando disse que a sua melhor arma era o ventre da mulher árabe. A taxa de natalidade entre os palestinos é muito maior que entre os israelenses seculares, o que em poucas gerações pode tornar os judeus uma minoria em Israel, passível de ser oprimida. Em uma democracia, o ventre é realmente uma arma. Ao analisar os regimes de apartheid da África do Sul e de Israel, Murray Rothbard indicou uma solução diferente: substituir o apartheid parcial pelo apartheid total, ou a proposta de dois estados. No entanto, como resumiu o eminente professor de política internacional John Mearsheimer, tanto a solução de dois estados, como a democracia e o apartheid foram descartadas pelo atual regime de Israel, que está conduzindo uma limpeza étnica brutal na Faixa de Gaza e assassinatos e desapropriações habituais na Cisjordânia – além das dezenas de milhares de mortos pelas bombas, outros milhares de palestinos já morreram por doenças e a fome e mais de 1 milhão também podem morrer.
Libertário sionista?
Diante dos fatos narrados acima, é realmente estarrecedor se deparar com qualquer libertário que apoie este projeto sionista de pura conquista agressiva de território. Ainda mais lastimável é ver um (ex)-libertário do calibre de Walter Block, com uma vida repleta de grandes contribuições à defesa de uma sociedade livre, destruir todo seu legado ao defender veementemente uma gangue de ladrões assassinos. Block sempre contou a história de que quando fazia parte do círculo de Ayn Rand em Nova York, conheceu Murray Rothbard e em poucos minutos de conversa foi convertido para o anarcocapitalismo. No entanto, agora foi revelado que Block nunca realmente se tornou um rothbardiano, e continuou sendo um randiano coletivista genocida. Apesar do histórico evidente de que sionistas europeus – os verdadeiros antissemitas – são invasores agressivos da Palestina, Block e Milei insistem em dizer que Israel está apenas se defendendo, sem nenhum excesso, e que, ao menos para Block, todas as milhares de mortes de civis do conflito em andamento são culpa exclusiva do Hamas (uma organização que foi promovida por Israel); como se a guerra tivesse tido seu início em 7 de outubro de 2023. Como se os israelenses nunca tivessem feito nenhum mal aos palestinos e tivessem apenas cuidando de suas próprias vidas quando, do nada, o Hamas cruzou a fronteira e começou a mata-los. Como se fosse possível que um ataque sinistro desses[3] pudesse ter sido levado a cabo por pessoas que não tivessem sofrido nenhuma agressão prévia. A maldade dos terroristas do Hamas é uma consequência da maldade, do terrorismo, das injustiças e da opressão infligida ao povo palestino há décadas pelos sionistas. Uma demonstração da fonte do mal pode ser vista na data do documentário Nascido em Gaza, filmado durante a ofensiva das FDI à Faixa de Gaza, em 2014, um dos muitos ataques de Israel contra palestinos. O documentário mostra a tragédia causada na vida de 10 crianças pelas bombas israelenses. O mesmo ocorreu com milhares de crianças que em 2023 teriam a idade dos jovens que cometeram atos atrozes contra israelenses no 7/10.
Milei tem a pachorra de dizer que Israel é o defensor dos valores ocidentais no Oriente Médio, e por isso deve ser apoiado à qualquer custo, mas roubo de terras e genocídio jamais foram valores ocidentais – assim como democracia, que sempre foi uma ideia desprezada – de gregos aos pais fundadores americanos – e na verdade é um elemento de de-civilização. Não obstante, Sammy Samooha classificou Israel muito abaixo na hierarquia dos regimes democráticos. Em primeiro lugar, os valores ocidentais não são judaicos, mas católicos. O que é o tão falado “Ocidente”? Em The Birth of the West, Paul Collins aponta que o Ocidente nasceu quando o Papa coroou Oto I imperador do Sacro Império Romano Germânico e as convicções da Igreja Católica Apostólica Romana dominaram a cena. Como visto acima, os judeus seriam uma minoria excluída no Ocidente Católico, e seus valores insignificantes na constituição da cultura ocidental. O mote modernista “valores judaico-cristãos” teria soado absurdo para o homem que viveu na era medieval, o auge do Ocidente, a época mais libertária da história, ou mesmo para o homem do século XIX. Porém, nem sequer os valores judaicos antigos são defendidos por Israel. Se Israel incorporasse os preceitos do judaísmo antigo, a vida humana seria um valor supremo. A vida humana era considerada sagrada pois os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Como Paul Johnson explica:
“Os sábios decidiram que um homem não tinha o direito de salvar sua vida causando a morte de outro. … No que dizia respeito à vida humana, os fatores quantitativos não tinham significação. Um indivíduo, se inocente, não podia ser sacrificado pelas vidas de um grupo. Era um princípio importante da Mishná que cada homem é um símbolo de toda a humanidade, e quem quer que destrói um homem destrói, num sentido, o princípio da vida, exatamente como, se salva um homem, resgata a humanidade. O rabi Akiva parece ter pensado que matar constituía “renunciar à semelhança”, isto é, deixar a raça humana. Filo classificava o assassinato como o maior dos sacrilégios, assim como, de longe, o ato criminoso mais sério.”
Como conciliar a importância dada a vida pelo judaísmo antigo com a carnificina causada na Faixa de Gaza pelas forças armadas israelenses? É impossível. No entanto, o judaísmo que se desenvolveu a partir do século I é o Judaísmo Talmúdico, que prega que somente a vida dos judeus é sagrada, enquanto a vida dos gois pode ser menosprezada. Que judeus podem e até devem ser desleais ao lidar com gois. Que judeus podem explorar e oprimir os gois. Até o roubo de gois é permitido pelo Talmude, como Shahak expõe:
“Furtar (sem violência) é absolutamente proibido — como o Shulhan ‘Arukb coloca tão bem: ‘mesmo de um Gentio’. O roubo (com violência) é rigorosamente proibido se a vítima for um Judeu. Todavia, o roubo de um Gentio por um Judeu não é imediatamente proibido, mas só sob certas condições tais como ‘quando os Gentios não estão sob o nosso domínio’, mas é permitido ‘quando estão sob o nosso domínio’. As autoridades rabínicas diferem entre elas sobre os detalhes exatos das circunstâncias sob as quais um Judeu pode roubar um Gentio, mas todo o debate preocupa-se apenas com o poder relativo dos Judeus e Gentios em vez de considerações gerais de justiça e humanidade. Isto pode explicar porque tão poucos rabinos protestaram contra o roubo de propriedade Palestina em Israel: este é apoiado pelo poder esmagador Judaico.”
Deste modo, quanto menor a influência da religião judaica (Judaísmo Clássico/Ortodoxo) no Estado de Israel, melhor. E Israel já executou suas operações perversas de forma menos genocida. Quando sequestraram Adolf Eichmann, os israelenses não bombardearam a Argentina indiscriminadamente, mas entraram lá secretamente e o capturaram sem que nenhum outro inocente fosse ferido. As operações contra terroristas também eram muito diferentes dos bombardeios sobre áreas residenciais praticados pelas IDF posteriormente, e os israelenses realmente miravam nos combatentes e minimizavam os danos a civis. O resgate cinematográfico de 1976 no aeroporto de Entebbe de 102 judeus sequestrados por palestinos, onde apenas 2 reféns foram mortos na troca de tiros é um dos melhores exemplos da disposição e engenhosidade israelense em punir culpados e preservar a vida de inocentes. Na Operação Entebbe, todos os 7 terroristas e mais 45 soldados ugandenses foram mortos, e apenas um soldado israelense morreu, Yonatan Netanyahu, cujo irmão mais novo, Benjamin Netanyahu, ficaria famoso e se tornaria o primeiro-ministro de Israel com mais tempo no poder. Yonatan havia participado de outras operações de precisão do tipo, como a Operação Primavera da Juventude em 1973, que invadiu o Líbano e matou os líderes terroristas do Massacre de Munique. Hoje em dia, seu irmão Benjamin, usando a desculpa de retaliar um ataque e libertar cerca de 200 reféns do 7/10, já matou dezenas de milhares de civis, feriu e mutilou outras dezenas de milhares, desalojou milhões e deixou em escombros cidades inteiras. Que diferença. E Walter Block se orgulha que este criminoso de guerra tenha escrito o prefácio de seu livro!
Block constrói seu caso a favor de Israel a partir de uma perspectiva liberal clássica, alegando que é necessário sair de sua posição anarcocapitalista para evitar o sectarismo, ou seja, para não se limitar a dizer que abolir o estado seja o único caminho. O objetivista que Block arrumou para ser o coautor de seu livro passou por maus bocados para tentar explicar essa posição contraditória. Ela não procede pois libertários não são contra o estado; eles são contra a agressão. A ênfase dada ao estado vem do fato de que ele é, disparado, o maior agressor de propriedade que já existiu, mas libertários também se opõe as agressões praticadas por indivíduos e grupos privados. Portanto, anarcocapitalistas não precisam deixar de lado sua defesa da abolição do estado para analisar ações de estados e propor alternativas que não sejam o seu fim. Porém, é importante que os anarcocapitalistas sempre apontem que a solução ideal é de fato a abolição do estado.
Anarcossionismo
Durante séculos, os judeus viveram como minorias em sociedades que eles desprezavam e eram justamente desprezados de volta por elas. O projeto sionista surgiu como uma resposta a isso. Ele perdeu muito de seu sentido com a judiaria americana, que encontrou um porto seguro em um país onde recebeu os mesmos direitos dos outros cidadãos e pôde prosperar sem a reação do resto da população que ocorreu nos séculos anteriores, quando os judeus foram expulsos de milhares de localidades. A legitimidade do atual movimento sionista foi irremediavelmente perdida quando eles pararam de comprar as propriedades dos palestinos e passaram a tomá-las à força. Mas o erro fatal dos judeus sionistas foi terem novamente ignorado o aviso profético de Samuel e aspirarem por um estado. Foi rejeitarem o alerta do rabi Johanan ben Zakkai, “o segundo em autoridade no Sinédrio, que se opusera a revolta [contra Roma] e falara em nome do velho elemento no judaísmo que acreditava que Deus e a fé eram mais bem servidos sem a carga e a corrupção do estado.” Foi desejarem um reestabelecimento do reino davídico e não da era dos Juízes. Foi ignorarem que a história dos judeus evidencia “um conflito inerente entre a religião e o estado de Israel”:
“Quando os israelitas, e mais tarde os judeus, lograram um governo autônomo estabelecido e próspero, acharam extraordinariamente difícil manter a sua religião pura e sem corrupção. A decadência iniciou-se rapidamente depois da conquista de Josué; voltou a aparecer sob Salomão, e se repetiu tanto no reino setentrional como no meridional, especialmente sob reis ricos e poderosos e quando os tempos foram bons; exatamente o mesmo modelo retornaria novamente sob os asmodeus e sob potentados tais como Herodes, o Grande. Em tempos de governo autônomo e de prosperidade, os judeus sempre pareciam atraídos por religiões vizinhas, seja cananita, filistéia-fenícia ou grega. Apenas na adversidade, eles se apegaram resolutamente a seus princípios e desenvolveram seus poderes extraordinários de imaginação religiosa, sua originalidade, sua clareza e seu zelo. E possível que se dessem melhor sem um estado autônomo, que se inclinassem com mais facilidade a obedecer à lei e Deus quando incumbiam a outros os deveres e as tentações de governá-los. Jeremias foi o primeiro a perceber a possibilidade de que a impotência e a bondade estivessem de alguma forma ligadas, e que o governo estrangeiro podia ser preferível a governo autônomo. Ele chega quase à ideia de que o estado era inerentemente mau.
…
… assim como não haviam objetado aos persas, já que tendiam a aceitar os argumentos de Jeremias de que a religião e a devoção floresciam melhor quando cabia aos pagãos levar adiante o negócio corruptor do governo.”
Ao optarem por criar um estado, os sionistas políticos não se livraram da repressão, apenas trocaram de opressor; antes eram reprimidos por estados gentios, agora são oprimidos por um estado judeu. A natureza do estado é a agressão, e qualquer estado será composto por explorados e exploradores. Durante a ditadura covid, Israel foi um dos países que mais tiranizou seus súditos com lockdowns, máscaras e vacinas obrigatórias. Israel usou seus cidadãos como cobaias de laboratório para a Pfizer, matando milhares de pessoas com as “vacinas” anti-covid. A tentativa sionista de livrar os judeus da opressão fracassou duplamente, não só com o estado sionista tiranizando palestinos como também tiranizando os próprios judeus, e os libertários podem e devem apontar para sua falha fundamental: a agressão institucionalizada. E quem sabe surja um novo movimento sionista que realmente livre judeus da tirania e não tiranize outros grupos, o Anarcossionismo. O ideal seria um movimento sionista que resgatasse os valores do judaísmo antigo, mas mesmo um sionismo do judaísmo ortodoxo talmúdico seria bem-vindo: se os judeus desprezam os gois, é melhor que eles vivam totalmente separados dos gois. Pensadores renomados se debruçaram sobre este assunto, de imperadores romanos à Napoleão e Goethe, e muitos concordam em ver no judeu um perigo universal. Martinho Lutero viu no sionismo uma solução quando disse em 1543: “Na minha opinião, se quisermos ficar livres dos males judaicos, temos que separar-nos deles, temos que mandá-los embora de nossas terras. E eles? Que vão para a sua pátria!”
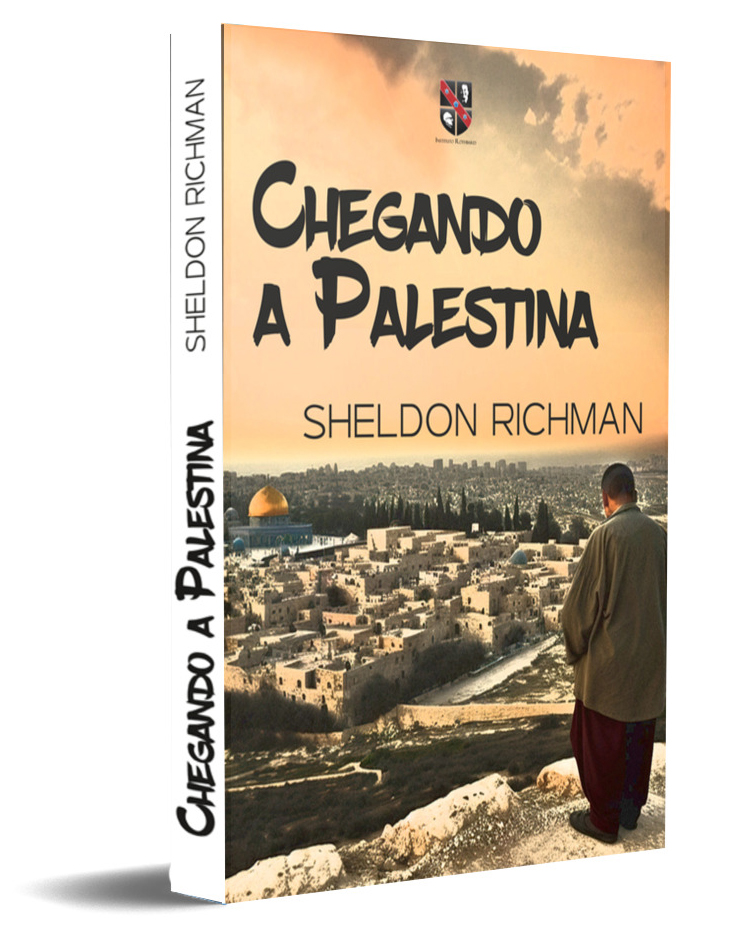 Mas os libertários também têm algo a aprender com o movimento sionista. Em algumas décadas eles conseguiram fazer o que alguns libertários estão tentando há um bom tempo: concentrar um número suficiente de libertários em um local, formar uma maioria e obter autonomia e independência (obviamente, deixando de lado a parte do roubo e da opressão aos habitantes nativos). Já faz 23 anos que o Free State Project tenta formar uma massa libertária eleitoralmente determinante em New Hampshire, mas sem sucesso até hoje. O Liberland está a menos tempo tentando colonizar e obter a autonomia de uma pequena ilha no Rio Danúbio entre a Croácia e a Sérvia, também ainda sem êxito. O recente projeto Los Propietarios tenta formar uma comunidade de anarcocapitalistas na Argentina, algo parecido com o que já foi tentado 15 anos atrás por Doug Casey. Existem outros projetos como o Free Cities e o Seasteading, mas nada conseguiu chegar perto do feito sionista.
Mas os libertários também têm algo a aprender com o movimento sionista. Em algumas décadas eles conseguiram fazer o que alguns libertários estão tentando há um bom tempo: concentrar um número suficiente de libertários em um local, formar uma maioria e obter autonomia e independência (obviamente, deixando de lado a parte do roubo e da opressão aos habitantes nativos). Já faz 23 anos que o Free State Project tenta formar uma massa libertária eleitoralmente determinante em New Hampshire, mas sem sucesso até hoje. O Liberland está a menos tempo tentando colonizar e obter a autonomia de uma pequena ilha no Rio Danúbio entre a Croácia e a Sérvia, também ainda sem êxito. O recente projeto Los Propietarios tenta formar uma comunidade de anarcocapitalistas na Argentina, algo parecido com o que já foi tentado 15 anos atrás por Doug Casey. Existem outros projetos como o Free Cities e o Seasteading, mas nada conseguiu chegar perto do feito sionista.
Antes de Theodor Herzl, sionistas também fizeram tentativas que não deram em nada, como a de Mordecai Noah, que em 1825 planejou adquirir uma ilha no Rio Niagara para ser um lar autônomo dos judeus. Stalin também tentou dar um lar aos judeus e criou o Oblast Autônomo Judaico, igualmente sem sucesso, pois embora ainda exista, apenas 0,2% da população é judaica. Hitler também foi um sionista que queria remover todos os judeus da Europa (e não exterminá-los – esta era a real Solução Final) e, após o 3º Reich invadir a França, o plano era mandar todos para Madagascar, mas com a invasão da Rússia a destinação mudou para os territórios conquistados à leste. Judeus sionistas até se aliaram aos nazistas, assinaram um acordo de cooperação que transferiu 60.000 judeus alemães e austríacos para a Palestina e queriam que todos os judeus fossem deportados para lá. Com a derrota alemã na guerra, isso também não deu certo. Foi somente com o elevado poder organizacional de Herzl que um movimento sionista seria triunfante. Com um estilo solene ele conseguiu angariar o apoio de ricos e poderosos de sua época. Após sua morte, seu trabalho foi avançado por sionistas como Chaim Weizman, que fez com que Arthur Balfour, líder dos conservadores britânicos, Winston Churchill e Lloyd George se tornassem fortes defensores do sionismo. Mas foi só com a entrada definitiva dos Rothschilds no projeto que os judeus despudoradamente conquistaram seu Sião e dominaram o globo.
__________________________________
Notas do editor
[1] Assim como grande parte dos sionistas modernos, David Ben-Gurion, o fundador e primeiro primeiro-ministro de Israel era ateu, mas um profundo estudioso da Bíblia, ciente de seu potencial mítico criador da Nação de Israel. Sholomo Sand explica que:
“O carismático dirigente de Estado não era apenas um fiel leitor do antigo Livro hebreu, mas também soube usá-lo com inteligência, como fino estrategista político. Compreendeu relativamente cedo que o texto sagrado podia se tornar laico-nacional e constituir o reservatório central de representações coletivas do passado, contribuindo para que centenas de milhares de novos imigrantes se tornassem um povo unificado, e vinculando as novas gerações à terra.
Os relatos bíblicos serviram como estrutura à sua retórica política diária, e sua identificação com Moisés ou Josué era profunda e parecia, de maneira geral, honesta. Assim como os chefes revolucionários franceses estavam certos de encarnar papéis de senadores romanos da Antiguidade, Ben Gourion e os outros dirigentes da revolução sionista, altos militares e “intelectuais de Estado”, estavam persuadidos de que reproduziam a conquista do país bíblico e a criação de um Estado no modelo do reino de Davi. Para eles, os acontecimentos da história contemporânea só adquiriam significado no pano de fundo dos acontecimentos paradigmáticos do passado.” (Sholomo Sand, A invenção do povo judeu)
Mais recentemente, após o 7 de outubro de 2023, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi criticado por citar uma referência bíblica aos amalequitas em um discurso sobre campanhas militares em Gaza. Este é só mais um exemplo dos perigos do estado secular israelense se basear no judaísmo talmúdico, que valoriza a vida dos judeus muito acima da dos não-judeus. Em seu livro de 1994, História judaica, religião judaica – O peso de três mil anos, Israel Shahak discorre sobre o tratamento diferenciado que judeus e gentios recebem perante a lei do Estado de Israel e destaca:
“Para além das leis tais como aquelas mencionadas até agora, que são dirigidas contra todos os Gentios na Terra de Israel, uma influência ainda mais maldosa brota de leis especiais contra os antigos Cananitas e outras nações que viviam na Palestina antes da conquista por Josué, bem como contra os Amalecitas. Todas essas nações foram totalmente exterminadas, e o Talmude e a literatura talmúdica reiteram as exortações genocidas bíblicas com ainda maior veemência. Rabinos influentes, que têm um seguimento considerável entre os oficiais do exército Israelita, identificam os Palestinos (ou mesmo todos os Árabes) com essas nações antigas, pelo que determinações como ‘não deixarás vivo nada que respire’ adquirem um significado tópico. De fato, não é incomum soldados reservistas convocados para uma comissão de serviço na Faixa de Gaza receberem uma ‘palestra educativa’ na qual lhes é dito que os Palestinos de Gaza são ‘como os Amalecitas’. Os versos bíblicos que exortavam ao genocídio dos Midianitas foram citados solenemente por um rabino Israelita importante como justificação da chacina de Qibbiya, e esta declaração alcançou uma circulação ampla no exército Israelita. Qibbiya^8, e esta declaração alcançou uma circulação ampla no exército Israelita. Existem muitos outros exemplos de declarações rabínicas ávidas de sangue contra os Palestinos, baseadas nestas leis.”
[2] “Isto de acordo com a narrativa bíblica pois “segundo Ze’ev Herzog, arqueólogo israelense e professor de arqueologia na Universidade de Tel Aviv, a monarquia unida de Davi e Salomão, se existiu, era, na melhor das hipóteses, um pequeno reino tribal e não uma potência regional. Israel Finkelstein, proeminente arqueólogo israelense e professor emérito da Universidade de Tel Aviv, argumentou de forma semelhante que Jerusalém na época de Davi era pouco mais que uma vila. Finkelstein propôs que o relato bíblico do reino de Davi e Salomão, escrito por escribas judeus pelo menos 300 anos após o suposto reinado de Davi, era uma mitificação do reino de Jeroboão II, que se sabe ter governado Israel de aproximadamente 788 a.C. a 747 a.C.” – Jeremy R. Hammond, A Brief History of Palestine.
[3] Apesar da gravidade do ataque, a máquina de propaganda judaica achou pouco, e inventou e disseminou uma versão mentirosa exagerada do atos terroristas, para justificar a limpeza étnica que está sendo executada na Faixa de Gaza. Toda a farsa foi desmascarada, como mostra este curto documentário do Grayzone. Este tipo de enganação parece ser um padrão judaico. O mesmo foi feito com bastante sucesso em relação ao mito do Holocausto. Os judeus sofreram com a política nazista de desenraizamento, onde foram deportados à força para fora dos territórios dominados pelo 3º Reich e todas as suas propriedades foram tomadas, para desincentivar que retornassem. Foram escravizados em campos de trabalho forçado e colocados em campos de transição rumo ao leste, em condições por vezes insalubres, onde milhares morreram, principalmente em epidemias de tifo. Massacres contra judeus ocorreram por parte de populações locais [pogroms] libertadas do jugo bolchevique e de divisões nazistas agindo contra as determinações de Hitler. Porém, novamente a máquina de propaganda judaica achou pouco, e criou e disseminou uma lenda exagerada – ou completamente inventada – dos fatos, que incluía fantasias como câmaras de gás, e que teriam sido exterminados no total 6 milhões de judeus. Esta farsa também foi totalmente desmascarada há décadas por historiadores revisionistas.















Talvez um dos melhores artigos que li do Fernando, diversos pontos levantados trazem uma perspectiva muito importante para tentarmos compreender desde todos os lados o(s) problema(s) atuais do oriente médio. Devo confessar que, mesmo em despeito de minha falta de conhecimento no assunto e admitindo o desprezo e ojeriza que tenho a diversos aspectos do universo árabe, alguns pontos levantados trazem uma reflexão importante para entendimento do lado palestino. Não consegui ainda ter uma opinião definitiva sobre o tema porque enxergo legitimidade em diversas reivindicações de propriedade e de afirmação exercidas pelos israelitas como nação, independentemente do problema levantado pela questão sionista e problemas vinculados ao estatismo. Pretendo estudar melhor a questão para quem sabe conseguir ter uma opinião mais clara, e em consonância com os valores libertários, e esse artigo certamente servirá para esse propósito.
Excelente artigo e pesquisa histórica, certamente um dos melhores e mais oportunos do autor.
Texto rasteiro e repleto de propaganda islâmica contra Israel. Sua descrição da formação de Israel não menciona a perseguição islâmica brutal e pogroms que assassinaram milhares de Judeus entre 1900-1940. Não menciona que todas as milícias sionistas foram criadas em resposta a perseguição islâmica, especialmente depois do massacre de Hebron em 1929. Não menciona que a sociedade islâmica da palestina era aliada aos nazistas e queriam finalizar o Holocausto.
Não menciona o Grão Mufti Amin Husseini, aliado de Hitler e propagador do Holocausto, figura instrumental em comandar a população islâmica a praticar pogroms contra os judeus, e depois da guerra ele foi organizador da invasão islâmica promovida pelo Líbano, Egito, Síria, Jordania, e Arabia Saudita, todos juntos com o objetivo aberto de eliminar os Judeus do mapa e finalizar o Holocausto.
A formação de Israel foi uma declaração de independência de uma população perseguida e em risco de genocídio. Independência bela e moral. Independência para formar a única nação da região que respeita direitos individuais. A aliança islâmica lutava para implementar a ditadura da lei islâmica (shariah) que viola o PNA em todos os aspectos. Os islâmicos palestinos lutavam para assassinar kuffars como os autores deste texto, em nome de allah.
E o resto do texto continua o mesmo nível de propagandismo a serviço maometano, inúmeros para eu colocar aqui. Se quiserem ler estudiosos de verdade leiam “The Palestinian Delusion” de Robert Spencer.
A elite global islamo-comunista fez um esforço colossal para sujar a imagem dos libertários depois do 7/Outubro, promovendo agentes propagandistas que espalham as mais baixas mentiras contra Israel a serviço da barbárie islâmica. O objetivo é fazer as pessoas comuns associarem libertários a anti-semitas e reduzir o crescimento do movimento libertário. Propagandistas deturpados como Dave Smith jogaram a imagem do movimento na lama.
Huahuahua! Quer dizer então que o Dave Smith, que é a estrela libertária mais famosa do mundo, um cara que caiu nas graças dos maiores podcasters do mundo (e hoje os podcasters tem 100 vezes mais audiência que a tv e outras mídias), sendo convidado frequente no Joe Rogan, Tucker Carlson, Candace Owens, entre outros gigantes, além da audiência de massa de um Piers Morgan, e, antes do assassinato (e provavelmente por isso ele foi assassinado) estava nas graças do fenômeno de massa Charlie Kirk… Dave Smith que não foi candidato a presidente pelo partido libertário e não foi candidato a vice presidente do Robert Kennedy pq não quis…. Dave Smith que é quem mais converteu libertários desde os fenômenos Ayn Rand e Ron Paul… este Dave Smith, com discurso antissemita, foi implantado pela “elite global islamo-comunista” para “reduzir o crescimento do movimento libertário“??? Só por essa já percebe-se que vc é algum tipo de retardado mental.
Mas essa “elite global islamo-comunista” é boa mesmo pois promoveu esses “agentes propagandistas que espalham as mais baixas mentiras contra Israel para sujar a imagem dos libertários” desde o próprio início do movimento libertário, pois o próprio criador do libertarianismo, Murray Rothbard, já espalhava exatamente essas mentiras! kkkkkkk, vc é realmente um palhaço!
E detalhe, o judeu Dave Smith sequer é bom no tema Israel, pois apesar de ser uma das principais vozes no mundo contra o genocídio atual em Gaza, ele diz que esse estado de terroristas e ladrões totalmente ilegítimo chamado Israel tem o direito de existir! Bizarro um libertário dizer isso.
Quanto ao resto dos seus comentários, estão no mesmo nível de cretinice misturada com ignorância ou falsidade deliberada.
A formação de Israel foi através de roubo de terras e do terrorismo para expulsar proprietários palestinos que nada tinham a ver com o que judeus europeus supostamente sofreram na Europa.
Os judeus palestinos conviveram por séculos pacificamente com árabes muçulmanos e cristãos e os conflitos só se iniciaram com a chegada dos sionistas, que sempre tiveram como objetivo o que está ocorrendo até hoje, os roubos das terras e a limpeza étnica dos palestinos.
E quem foi aliado de Hitler foram os sionistas: Judeus e Nazistas
Como explicado no artigo, Hitler era um sionista. Ele tinha o mesmo objetivo dos sionistas, tirar todos os judeus da Europa transferi-los para outro local. Então judeus sionistas e Hitler eram aliados naturais.